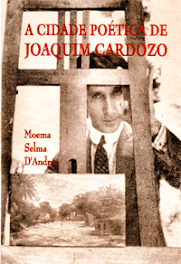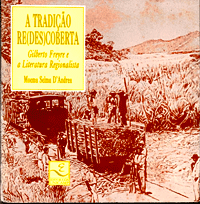É comum, na nossa história literária, ouvirmos falar dos romances de José Lins do Rego como a narração do Ciclo da Cana de Açúcar. Aliás, foi o próprio autor quem assim os considerou, imbuído, naquele momento, da saga de sua família de senhores de engenho. Anos mais tarde, José Lins quis apagar o rótulo, provavelmente porque este título geral desse ênfase a um contexto não literário, mas próximo de uma autobiografia. A verdade, porém, é que a idéia do Ciclo nasce espontaneamente após terminada a leitura de seus cinco romances pioneiros.
A propósito, Balzac, por exemplo, nomeou A comédia humana como um vasto painel de sua extensa produção romanesca. Mas, mesmo que a iniciativa não tivesse partido do Autor, é bastante provável que os críticos-leitores franceses tivessem a idéia de assim denominar sua obra, mediante a recorrência temática. Balzac desvendou, literariamente, o funcionamento de uma aristocracia decadente e as sinuosas relações com a burguesia vitoriosa, no século XIX francês.
Não se trata aqui de uma comparação entre dois autores, mas de uma reflexão sobre o projeto literário de José Lins do Rego. Mesmo porque o autor paraibano não arquitetou a priori um plano para os seus cinco romances iniciais. Graciliano Ramos, num artigo intitulado “Decadência do Romance Brasileiro”, resumiu, a respeito da Obra da Cana-de-Açúcar, a maioria das opiniões críticas sobre essas narrativas, naquela ocasião. [1]
“José Lins do Rego fez o Ciclo da Cana-de-Açúcar, conjunto de cinco romances sérios: Menino de Engenho (1932), Doidinho (1933), Bangüê (1934), Moleque Ricardo (1935) e Usina (1936). Não podemos isolar nenhum desses: movem-se aí as mesmas personagens, apresentam-se os mesmos interesses, as mesmas lutas. O romancista não ideou um plano. Escreveu uma novela de cento e tantas páginas, julgo-a incompleta e resolveu acrescentar-lhe um segundo volume. Sempre insatisfeito, foi adiante – e assim veio a lume a narração do bangüê vencido pela usina, do capital estrangeiro absorvendo as economias do senhor de engenho..”
A reflexão que ora se inicia detém-se na narrativa de Bangüê. [2] Em primeira mão, por ele representar o último romance em que o narrador adota o foco narrativo enquanto personagem que narra, ou seja: o Carlinhos adulto. A segunda motivação coincide com a narração do declínio final de seu avô José Paulino e do engenho Santa Rosa.
A escolha do narrador de primeira pessoa está estreitamente ligada ao fato de o autor transformar em ficção sua vivência e convivência nos latifúndios da família. Até certo ponto, este recurso literário, tão bem explorado por grandes autores (haja vista São Bernardo e Brás Cubas ) induz o conceito de narrativa memorialística, que vem contemplando os inúmeros comentários da critica sobre esses romances iniciais. Mas, vista por outro ângulo – sem o cunho memorialístico que subjaz à sua ficção – a importância do narrador de primeira pessoa em José Lins deve-se a certa compulsividade do autor, ou insatisfação como queria Graciliano Ramos.
Esta atitude gera uma funcionalidade literária, ou seja: gera o processo reiterativo de seus romances. Gera redundâncias de situações e de recorrências estilísticas, que são expostas de vários ângulos, mas que o leitor vai percebendo como reiterações. Este processo reiterativo pode ser visto como uma metalinguagem do conteúdo. À medida que o narrador vai reiterando a decadência da família e a exploração dos cabras do eito, a forma naturaliza o contexto da experiência vivenciada. Naturalizada, ela esvazia ou torna neutra a exploração, e assim reatualiza o mito da sociedade dos patriarcas, na pessoa do senhor de engenho, briguento, poderoso, mas paternal. A metalinguagem assume, neste caso, a função do mito que é a de esvaziar o conteúdo da mensagem, segundo a acepção de Roland Barthes. [3]
Portanto, mais do que um ciclo, a imagem que proponho para uma das possíveis leituras de Bangüê é a do labirinto. No ciclo, presumidamente, existe um processo evolutivo com princípio e fim. De uma maneira geral, a imagem do ciclo da cana-de-açúcar, ou do esplendor e decadência da vida patriarcal, fica retida na configuração dos cinco romances, somados posteriormente a Fogo morto, que é o réquiem do Ciclo. Mas é nos labirintos da estrutura de Bangüê que quero me fixar agora.
A imagem da edificação do labirinto se configura como um traçado confuso, fácil de entrar e difícil de sair. O mito do labirinto de Creta, com a ameaça do Minotauro a devorar os que nele se aventurassem, condiz com a metáfora de um caminho complicado, cheio de armadilhas. [4] Em Bangüê há três entradas para o labirinto-enredo; três capítulos denominados respectivamente de: “O velho José Paulino”, “Maria Alice” e “Bangüê”. Essas entradas se trifurcam em caminhos, ou encaixes narrativos, intimamente correlacionados. Tomados em conjunto, são percursos de um mesmo traçado confuso que sugere avanços e recuos no andamento da narrativa e na voz do narrador.
Definindo uma conduta mais sistemática, tentemos delimitar os volteios labirínticos de Carlos de Melo, o narrador protagonista. Em um primeiro plano, sobressai a tentativa de saída individual e/ou existencial do sujeito do discurso. Num segundo plano, evidencia-se o impasse da sobrevivência econômica dos latifúndios da família do patriarca José Paulino que é, por contigüidade, o impasse da grande família patriarcal nordestina. No entanto, mesmo assim delimitados os dois planos significam uma unidade formal. A subjetividade dos impasses de Carlos de Melo tem a contrapartida na objetiva situação do declínio econômico do latifúndio açucareiro.
A primeira entrada no labirinto da estrutura de Bangüê, cujo subtítulo é “O velho José Paulino”, coloca o narrador diante da evidente derrocada de sua classe social. Ele está de volta do Recife, após dez anos de ausência:
“Vinte e quatro anos, homem, senhor do meu destino, formado em Direito, sem saber fazer nada. Nada tinha aprendido, nenhum entusiasmo trazia dos anos de aprendizagem. Agora tudo estava terminado. Um simples ato de fim de ano, e a vida devia tomar outro rumo.” (Bangüê, p. 5).
Curioso este enunciado: “Homem, senhor do meu destino”. Que destino? É natural que indaguemos agora qual o objetivo de alguém que é senhor do seu destino, mas que dos anos de Faculdade sai sem saber fazer nada. A resposta vem logo adiante:
“De fora, eu me voltava para o Santa Rosa. Queria continuar minha gente, ser um senhor rural. Era bonito, era grande a sucessão do meu avô. Fazia cálculos, sentia orgulho em empunhar o cacete de patriarca do velho JoséPaulino. Seria um continuador”. (Bangüê, p. 5, grifos meus.)
Vemos aí o primeiro desafio que o narrador encontra na entrada do labirinto. Sua experiência intelectual é de fachada e ele mesmo se declara uma nulidade. Como herdeiro natural do latifúndio familiar, Carlos de Melo se deve, porém, a tarefa de continuar a grandeza dos antepassados:
“A tradição dessa vida me enchia de orgulho de ter saído dessa gente. Ia longe nos meus sonhos, pensava em montar no humilde Santa Rosa o luxo dos meus antepassados.” (Bangüê, p. 6)
Por todo o capítulo, o narrador ora avança nos sonhos de grandeza e resgate da tradição patriarcal, ora recua no marasmo de sua impotência. As duas posições são exaustivamente reiteradas, tal como o caminhante do labirinto que ora se anima pela iminência de uma saída, ora se frustra na perda do rumo:
“Encolhido na minha rede, deixava que o tempo corresse. Tomavam-me como um doente. Só podia ser doença daquele recolhimento de dias inteiros”. (Bangüê, p. 11)
A degradação que assola o Santa Rosa, com o declínio físico do patriarca José Paulino é a mesma que constrange o narrador. Preso no labirinto, sem forças para avançar, ele se compraz em destruir moscas:
“Botava papel com breu para aprisioná-las. Ficava atento às manobras que fazia pra morrer. Era a única coisa que me seduzia ali: aquele espetáculo miserável, ver o suicídio das moscas.” (Bangüê, p. 18)
Se invertermos a imagem, poderemos ver no “suicídio” das moscas seu próprio suicídio moral; ainda mais que o sacrifício dos insetos era patrocinado pelo arbítrio do narrador, contemplando os volteios que elas faziam para escapar daquele “destino”. Perdido no labirinto, Carlos de Melo se comprazia em espetáculo de degradante inércia.
Analisando de outro ângulo narrativo, este estado degradante neutraliza-se pela freqüente autocomiseração com que o narrador alimenta a sua imagem. Esta atitude complacente troca de sinal quando ele ajuíza, negativamente, a degradação em que vivem seus antigos companheiros de infância, “os moleques da bagaceira”:
“Um dia chamei um deles para conversar. Tinha casa, três filhos, morava em Areia e vinha para o eito. Falava comigo desconfiado. De cabeça baixa. Como tinha se degradado, ele que fora meu chefe nas brincadeiras de Antônio Silvino.” (Bangüê, p. 11)
O que tinha sido uma brincadeira de igual para igual no terreiro da casa-grande, o faz de conta que a infância proporcionara, torna-se agora uma contingência de subordinação frente ao “sinhozinho”, entendida e respeitada pelo cabra do eito. O narrador “naturalmente” esquece que a supremacia do outro na infância, era apenas um ato teatral de igualdade. No momento atual do discurso narrativo, a “degradação” decorre das objetivas condições de uma conjuntura social aviltante, esmaecida pela ambigüidade da enunciação.
A segunda parte do livro – o capítulo dedicado a Maria Alice – aparentemente narra as frustrações amorosas do narrador e (aparentemente também) se fosse suprimido não implicaria maior solução de continuidade ao enredo, caso tomássemos como referência apenas a temática da ruína dos engenhos. No entanto, é nesse capítulo que afloram as maiores contradições do narrador até então expressas em mornas digressões. A personagem feminina – tal qual uma nova Ariadne – dá-lhe um fio condutor e age como um catalisador no impasse existencial de Carlos de Melo. Agudiza o conflito de sua impotência e o lança em direção a uma saída. Até então o narrador estava dividido entre o prestígio intelectual (se tornar um cronista da grandeza dos senhores de engenho) e o desejo de assumir, de fato, o mando latifundiário.
Maria Alice traz dois dados referencialmente perturbadores nesta fase do nosso protagonista: é mulher e é estranha ao meio rural. Na vivência dos engenhos, o desempenho feminino fora sempre o de coadjuvante no mando. Suas atribuições maiores circulavam entre a cozinha e a sala de visita. Seus subordinados eram as negras do serviço doméstico. Do alpendre da casa-grande, a senhora de engenho – com raras exceções – exercitava limitadamente o domínio de ver, ouvir e opinar. Maria Alice, por seu lado, é uma figura culturalmente citadina. Filha de um oficial do exército, nascida na Paraíba e morando por algum tempo no Rio de Janeiro. [5] Com a morte do pai e o casamento com um funcionário público, primo em grau afastado da família de José Paulino, ela volta a residir na Paraíba. Privada da vida cultural que usufruía na capital do país, ela entra em depressão. Os médicos recomendam uma temporada no campo que a curaria do “ataque de nervos”. Estes são os dados referenciais que motivam a presença de Maria Alice no Santa Rosa. Paralela a eles, inicia-se a trama do “sedutor e da seduzida”, ocasionando a saída de Carlos de elo da letargia anterior.
As primeiras observações de Maria Alice, a respeito da ida dos cabras do eito, acontecem quando ela ainda parece não se dar conta do interesse erótico que desperta em Carlos. Andando com o “Doutor” pelas casas dos moradores, observa as condições subumanas em que vivem: ” Faz pena. Aquele só falta engatinhar na lama.”. (Bangüê, p. 46) É apenas um palpite, mas o suficiente para deixar o narrador ressabiado: “E eu fiquei pensando se aquela piedade não fora uma censura a nós, que éramos donos da feitoria”. (Bangüê, p. 46) Do palpite a critica direta, Maria Alice vai confrontando as contradições entre a casa–grande e o bangüê. Os trabalhadores do eito ganhavam mil e duzentos para “doze horas de enxada”. Maria Alice sai-se com um discurso de subversão à ordem vigente na esfera patriarcal: “– Que coisa horrível! Um homem da cidade para carregar uma mala ganha muito mais do que esses em doze horas. Não se conformava. Por isso havia revolução no mundo”. (Bangüê, pp. 52/53)
Na verdade, a crítica de Maria Alice não vai além da outra ponta do capitalismo que já estava em prática nas prestações de serviço, ou seja, explorar um pouco menos para “apaziguar” a classe desfavorecida e “evitar revoluções”. Mas na lógica dos herdeiros do patrimônio rural essas palavras soam como subversivas, a ponto de o narrador, páginas adiante perguntar-lhe se era comunista.
Podendo ver, ouvir e opinar sem limitações, Maria Alice assume uma ascendência sobre o herdeiro rural. Dá-lhe a deixa para retomar o projeto da crônica dos engenhos, mas sob mudança de perspectiva: “Por que o Doutor não escreve um livro sobre essa gente? Em vez de exaltar a vida dos donos, o doutor podia se interessar pelos pequenos." (Bangüê, p. 53)
Esse momento da narrativa é importante para a definição do projeto literário de José Lins do Rego: a voz questionadora da personagem feminina se configura como um desdobramento do projeto narrativo. É seu alter ego à procura do rumo. Define o discurso ambíguo do narrador na trajetória estrutural de seus romances, alentado pela forma paternalista. Ao mesmo tempo em que denuncia a exploração dos “homens livres” no latifúndio, o narrador tenta, incessantemente, resgatar o poder da sociedade patriarcal, justificando sua existência: “Achei uma boa idéia [...] Seria um gesto grandioso, porque viria de um que herdaria mais tarde estas terras e estes homens”. Na verdade, enquanto descendente do patriarcado rural ele é coerente com esta visão de mundo: herda terra e homens. Mas enquanto arquiteto da narrativa deixa filtrar a vida subumana dos trabalhadores braçais, daí sua ambigüidade.
Durante os meses de sua relação íntima com Maria Alice, o narrador como que recebe uma carga energética que o faz assumir as tarefas de mando que o avô, bastante combalido, pouco a pouco abandonara. A moça da cidade também se adapta ao campo, desempenhando com sucesso o papel de senhora rural. Este é o momento em que o narrador parece acertar sua engrenagem existencial com a do engenho, tomando gosto pelo mando:
“O hábito do trabalho dava-me gosto pela chefia, o amor ao cabo do relho. Vivia de cama e mesa com Maria Alice há quase dois meses, tirando a safra do Santa Rosa, a dar gritos para os tombadores de cana, para o mestre de açúcar. E até briguei com um moleque que chupava cana caiana no picadeiro. Entrava pela casa de purgar, pela casa do bagaço, de olhos arregalados para tudo”. (Bangüê, p. 65, grifos meus.)
É o momento, também, em que a saída para o fim do labirinto seria a do narrador-protagonista assumir, de vez por todas, sua condição de senhor de engenho. Mas tal opção retiraria, por certo, a complexidade de sua obra, onde está implícita a corrosão da tradicional família açucareira.
Optando pelo recurso irregular do labirinto, acentua-se a ambigüidade no trato entre o mandante e os mandados, movida pela visão paternalista do senhor. Seus cabras ganhavam pouco e eram explorados, mas contavam com uma certa alforria por parte do senhor de engenho, além dos acréscimos que a natureza pródiga da várzea lhes dava. Neste momento vem à tona o principal obstáculo, o real perigo que ameaça o percurso labiríntico do narrador e, por contigüidade, o da sociedade patriarcal: a presença da usina no cenário econômico dos grandes latifúndios de estrutura familiar.
A alusão à usina – que se torna agora um dos móveis centrais da narrativa – é feita à maneira de uma oposição entre o menos ruim e o pior. As usinas pagavam três mil réis aos seus trabalhadores – portanto mais do dobro que o engenho. – porém não lhes concedia o direito de botar seu roçado, criar seu bacorinho, sua cabeça de gado, etc. A questão do assalariado se coloca, no nível de enunciação do discurso narrativo, apenas entre o “relho do pai” e a autoridade impessoal da sociedade anônima das usinas; ou ainda entre o “pai-patrão” e o “patrão-empresário”. Este é um dos motivos que apazigua a consciência do narrador. Outra argumentação ainda, é sobre a “vadiagem” dos cabras do eito que não os deixava “subir” na vida. A indolência que ele imputa aos trabalhadores chega a ser perversa na aparente ingenuidade do tecido textual.
“Davam três dias de serviço, ao menos. Era a obrigação. O resto da semana, que trabalhassem para ele. Poucos trabalhavam. Mandavam as mulheres para o roçado, de pano na cabeça, e ficavam em casa se refazendo do eito pesado. Muitos iam dar conversa pelas bodegas da estrada, beber cachaça, gozando a vida a seu jeito (...) Tinham filhos que perdiam com a mesma indiferença com que viam morrer um pinto de sua ninhada. Se o ano fosse bom de algodão, faziam mais roupa e bebiam mais nas festas para se estragarem no caipira. Não sabiam o que era um mealheiro, um tostão guardado de reserva.”
Ao argumento, que minimiza a exploração, soma-se a providencial cumplicidade da natureza: as terras da várzea e o rio Paraíba servindo de celeiro natural para os pobres. Esta prodigalidade rende também uma outra oposição dentro dos próprios latifúndios: os pobres da várzea eram mais “felizes” do que os do agreste, cujas terras não eram tão férteis ao plantio da cultura que lhes subsidiava a já precária alimentação.
Recapitulando o discurso narrativo, vimos que a entrada na segunda parte de Bangüê configura uma mudança em Carlos de Melo na direção a uma provável saída do labirinto-enredo. Maria Alice – o ponto de vista citadino – impulsiona a retomada da tradição patriarcal, dentro de uma perspectiva mais humana, se assim pudermos chamar as observações superficiais da personagem feminina, que de cama e mesa, se assume como “senhora de engenho”.
Mas o projeto do herdeiro se frustra com a partida de Maria Alice, que entra nas primeiras páginas do capítulo e sai nas últimas, já “curada” dos faniquitos e de braço com o marido, tão descomprometida como chegara. Sua funcionalidade estrutural estava cumprida. Exacerbara os mecanismos de consciência do narrador, acentuando-lhes a ambigüidade de seus avanços e recuos.
A partir do terceiro capítulo, as oscilações de Carlos de Melo atingem o ponto mais alto do termômetro narrativo. Com a morte do avô, ele se torna o senhor do engenho Santa Rosa. Começa de fato o desafio que no capítulo inicial preocupava-o apenas como possibilidade: ou seja, a transferência fetichizada do símbolo patriarcal (o cacete de José Paulino) com todas as implicações econômicas e sociais dele advindas.
“Tinha ganho o Santa Rosa. Era meu, livre de tudo. Todo aquele mundo de terra me pertencia de porteira fechada. Gado muito para o serviço, mais de cem bois de carro, burrama grande, safra no campo para colher e um povo bom para mandar nele. Era senhor de engenho. Muitos levavam uma vida para chegar àquela situação e conquistar o direito de mandar em terras e gente. [...] Mas o Santa Rosa estava íntegro, mantido em seus limites. Seria para ele (o avô) a maior desgraça se um dia fosse obrigado a perder uma braça de terra. Fizera-lhe a vontade. A sua nave capitânea não sofrera avaria de espécie alguma”. (Bangüê, p. 109)
O avanço da narrativa vai comprovar um dado importante na ficção de Bangüê: os planos ambiciosos do narrador acontecem apenas no extrato do imaginário do poder, no qual, àquela altura, se sustenta a família patriarcal. [6] A conservação da integridade do Santa Rosa é o lado prático - e ainda exeqüível – em que se faz a representação nostálgica da memória do patriarcado açucareiro. No âmbito do desempenho administrativo de Carlos de Melo, chega a ser patética a transição entre o último discurso que finaliza o item cinco, expresso no texto acima, e o que vem em seguida, iniciando o item seis. É um dos poucos momentos em que a narrativa – rompendo seu ritmo reiterativo – consegue um dos pontos mais dramáticos, pelo impacto abrupto de situações adversas. Realmente um gran finale.
“Há três anos que o Santa Rosa safreja com seu novo dono. E estava de fogo morto. O que fizera para isto? Não sabia explicar meu fracasso.” (Bangüê, p. 109)
O andamento posterior da narrativa se encarrega de demonstrar como, pouco a pouco, a perda de limites do Santa Rosa coincide com a desintegração individual do narrador. Ele caminha em direção ao ponto determinante da estrutura do ciclo, que é a presença da usina vencendo o bangüê, ou do capital estrangeiro absorvendo as economias dos senhores de engenho, como disse Graciliano Ramos. Isto é representado na ficção pela impotência de Carlos de Melo; embora configurada no plano individual revela-se a metonímia, ou imagem síntese da desagregação econômica do patriarcado açucareiro nordestino, na década de vinte. Sendo assim, tanto a limitação do herdeiro como a perda de limites do latifúndio, constituem um dado estrutural da narrativa, e coerente e inseparável.
Dito isto, poderia parecer que a capitulação do bangüê seguiria uma linha evolutiva marcada por um determinismo de fim de linha. Ao contrário, a complexidade reside não no resultado final para onde vai sendo empurrado o narrador, mas nas entrelinhas da estratégia usada pelo capital estrangeiro para abalar os alicerces dos vários engenhos, até torná-los de fogo morto. Assim começam os confrontos de Carlos de Melo com a Usina São Felix, através do diretor-gerente da sociedade anônima.
É claro que a sociedade anônima não se permite os arcaicos confrontos de cabras e rifles que existiam entre os senhores de engenho, quando estavam em pé de guerra. Os métodos são mais sutis, como por exemplo, intermediar um antigo cabra do eito para atazanar a vida do herdeiro. José Marreira, morador de José Paulino, é o modelo dos poucos “servos” que dão certo. No conchavo estratégico com a usina, Marreira vai alugando as terras do engenho para o plantio de cana, de parceria com Carlos de Melo. Aos poucos, de benfeitoria em benfeitoria, vai adquirindo direitos nas terras do Santa Rosa. Quando Carlos dá por si, Marreira já era uma espécie de co-proprietário. Ao exigir-lhe que saísse de suas terras, ouve em resposta um justo período de indenização.
Acentua-se a ambigüidade do representante patriarcal nas referências preconceituosas feitas ao antigo morador, definindo a situação de ambas as classes sociais:
“Marreira se despediu de mim com o mesmo sorriso. Ia pensar, e dando resposta no outro dia. Vi-o montado um belo cavalo ruço, de arreios reluzentes. E ainda tirou-me o chapéu com reverência. Que superioridade danada! Aonde aquele moleque aprendera aquilo, aquelas maneiras de grande? Pegara no cabo da enxada como trabalhador alugado, subira por cima de cargas de aguardente, contrabandeando cachaça de Pernambuco, passou para lavrador, levando anos no Santa Rosa, moendo cana. Hoje, Capitão José Marreira, fazendo frente ao neto do homem que o mandara para o eito”. (Bangüê, 134)
A ação que Marreira intermedeia entre o arquejo do Santa Rosa e o fôlego da São Félix é decisiva. Matreiramente, ele deixa a briga entre os “brancos" ao vender seus plantios para a usina, não sem antes dar o troco para o preconceito:
“Não estou pedindo exorbitância. Avaliei tudo por baixo. Prefiro o prejuízo, a brigar com o neto do Coronel José Paulino. Deus me livre disto. Branco que brigue com branco. Camub´be cum camub´be.” (Bangüê, p.133)
Enredando-se cada vez mais no complexo labirinto, Carlos se endivida com a usina que via chegar o momento da posse do Santa Rosa. Mas se o engenho estava quase de fogo morto, a sociedade patriarcal ainda dispunha de algum fôlego para a saída do impasse. Diante da ameaça do capital empresarial, a família, com o filho Juca à frente, empreende a compra do Santa Rosa, com o intuito de conquistar seu espaço na comunidade dos usineiros. Carlos de Melo, aparentemente, encontrara a ambicionada saída, resolvendo seus impasses: nem o marasmo inicial, nem a veleidade de empunhar o cajado do avô. Sai do engenho, tecendo-lhe um réquiem entre o queixoso e o aliviado, mas sem dúvida também poético pela provável perda dos paus-d´arco, suprema ironia.
“Era um homem rico. O bolso cheio de contos de reis. Dei o engenho ao Tio Juca por trezentos contos. [...] O Santa Rosa findara. É verdade que com um enterro de luxo, com um caixão de defunto de trezentos contos de réis. Amanhã uma chaminé de usina dominaria as cajazeiras. Os paus-d´arco não dariam mais flores porque precisavam de terra para a cana. E os cabras do eito acordariam com o apito grosso da usina. E a terra fria iria saber o que era trabalhar para a usina. E os moleques o que era fome. Eu sairia de bolso cheio, mas eles ficavam.” (Bangüê, p.182)
Estamos chegando ao fim do labirinto proposto para a leitura de Bangüê. No início, chamei a atenção para o aspecto coincidente das provações do narrador e dos impasses da sociedade patriarcal delineados na estrutura do romance. O labirinto perverso do discurso narrativo – usado como imagem em substituição ao ciclo – continua em Usina[7], desta vez com a corrosão do Dr. Juca. O narrador de primeira pessoa sai de cena e delega a voz ao narrador de terceira, que continua a crônica familiar. A mudança de estratégia do foco narrativo visa criar um distanciamento do relato memorialístico, um salto sem dúvida qualitativo para o autor.
O artifício, no entanto não elimina as idas e vindas da sociedade patriarcal nem a voz suprema de Menino de engenho. O que Carlos de Melo narrou em seu primeiro romance e continua reiterando compulsivamente até Fogo morto é a ambigüidade ideológica da estrutura pós-colonial brasileira, confrontada entre os privilégios de classe a serem mantidos e as idéias modernas que nos chegavam como modelo de prestígio liberal [8] Maria Alice é um exemplo desse liberalismo de encomenda e José Marreira – tomando o caminho da modernização rural – torna-se o veículo da nova mentalidade que atropela a classe dos senhores de engenho. Nesse sentido, ele também antecede a Paulo Honório, cujo drama individual e social preenche as páginas de São Bernardo.
NOTAS:
*Escrito para a Semana Literário sobre José Lins do Rego. João Pessoa, 1990
[1] RAMOS, Graciliano. Decadência do romance brasileiro. Literatura. Rio de Janeiro, ano I, no 1, set. 1946.
[2] REGO, José Lins do. Bangüê. 13 ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1982. Todas as citações do romance obedecem, a partir de agora, a esta edição.
[3] BARTHES, Roland. O mito hoje. In: Mitologias. 7 ed., São Paulo: Difel, 1987.
[4] Flora Sussekind, em Tal Brasil qual romance? Rio de Janeiro: Achiamé, 1984, usa a imagem do labirinto em oposição ao círculo. Este trabalho, por outro lado, tenta refletir o labirinto dentro do ciclo.
[5] É possível que, na enunciação, o narrador se refira à capital do Estado como Paraíba. O tempo da narrativa está, presumivelmente, entre os anos da década de vinte – auge da crise da açucarocracia , conforme denominação de Evaldo Cabral de Melo . Em 1930, com o assassinato do Presidente da Paraíba, a capital passa a se chamar João Pessoa.
[6] A propósito da transferência das perdas da família dos senhores de engenho para o imaginário do poder hegemônico da cultura nordestina frente às demais culturas brasileiras, vê o meu livro: A tradição re(des)coberta: Gilberto Freyre e a literatura regionalista. Editora da UNICAMP, 1992. No famoso Manifesto regionalista, dito de 26, mas publicado em 1952, pelas Edições Região, Gilberto Freyre afirma: “Talvez não haja região que exceda o Nordeste em riqueza de tradições ilustres e em nitidez de caráter. Vários dos seus valores regionais tornaram-se nacionais depois de impostos aos outros brasileiros menos pela superioridade econômica que o açúcar deu ao Nordeste durante mais de um século do que pela sedução moral e pela fascinação estética dos mesmos valores.” (grifo meu) E a respeito da perda econômica dos senhores de engenho, ele diz no mesmo Manifesto: “Já quase não há casa, neste decadente Nordeste de usineiros e novos-ricos, onde aos dias de jejum se sucedam, como antigamente, vastas ceias, de peixe de coco, de fritada de guaiamum, de pitu ou de camarão, de cascos de caranguejo e empadas de siri preparadas com pimenta. Já quase não há casa em que dia de aniversário na família os doces e bolos sejam feitos em casa pelas sinhás e pelas negras: cada doce mais gostoso que o outro”.
[7] O moleque Ricardo antecede a Usina e sua ação se passa no Recife. Pelo fato de a narração se prender ao espaço urbano, alguns críticos, equivocadamente, o colocam à margem da temática dos engenhos. A esse respeito ver o excelente trabalho de Manuel Cavalcante Proença: O negro tinha caráter como o diabo. In: REGO, José Lins do. O moleque Ricardo. 14 ed., Rio de Janeiro, José Olympio?João Pessoa, Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba, 1978.
[8] A respeito das contradições ideológicas da sociedade brasileira, colonial e pós-colonial, cito o clássico trabalho de Roberto Schwarz: As idéias fora do lugar. In:Ao vencedor as batatas –forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo:Duas Cidades, 1977. E mais recentemente, Um mestre na periferia do capitalismo/Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990.
quinta-feira, 22 de janeiro de 2009
O Contexto Social Como Um Problema de Forma Literária
Um dos problemas que mais afligiram a nossa literatura foi justamente o de enfrentar a filiação aos modelos estrangeiros, sem com isso cair na cópia do original, ou na teoria da dependência de país colonizado. Tal problema constituiu-se, positivamente, ao longo de nossa história literária, inquietando tanto os nossos escritores como os críticos da produção ficcional brasileira. Essa hesitação entre o ser e o não ser estabeleceu-se, principalmente, desde os meados do século XIX, permanecendo até hoje sob diferentes indagações, embora já bastante atenuadas devido às experiências dos textos modernistas e pós-modernistas.
É sabido que desde o Romantismo – a fase considerada da “maioridade” de nossa literatura – a busca da identidade nacional e a afirmação da nacionalidade freqüentaram tanto as produções literárias como a crítica especializada da época. Hoje, qualquer estudante do curso de Letras sabe que José de Alencar, Gonçalves dias ou Castro Alves, entre outro dos nossos românticos, se empenharam em dotar suas obras dessa feição nacionalizante e dessa afirmação de país novo, fixando as cores tropicais como originalidade da incipiente nação. Essa busca da identidade nacional contribuiu, com excessos, para a noção de um ufanismo, ora ingênuo ora desbragado, que tanto marcou e – convenhamos – ainda marca a mentalidade do país. Em 1908, o Conde Afonso Celso – mineiro de boa cepa – escreveu o livro Porque me ufano do meu país, com muito sucesso entre a elite letrada e a intelectualidade brasileira. Nele está um bom exemplo de um ufanismo ingênuo e bastante tendencioso das mazelas de nossa colonização. Um rápido olhar no seu índice composto de 42 itens nos dá a medida desse desmedido orgulho. [1] Sobre a escravidão, o Conde Afonso Celso argumenta em favor da positividade do tratamento que se dava ao escravo e de como sua libertação foi feita de maneira “honrosa”:
Se é exato que o Brasil se demorou a abolir a escravidão, não menos certo que em parte alguma a questão foi solvida de modo mais inteligente e honroso.
Não nos deve envergonhar o fato de havermos mantido a maldita instituição. Quase todos os povos o (sic) praticaram.[2]
Na segunda metade do século XIX, a crítica literária, ainda tateante, foi marcadamente de feição nacionalista, na tentativa de dotar o país de sua identidade nacional pós independência.Tanto Sílvio Romero como Araripe Júnior e José Veríssimo laboraram na crítica da literatura e da cultura. O primeiro deles antipatizava com a ficção de Machado de Assis por achá-la impregnada da influência dos romances ingleses. A certa altura de sua História da literatura brasileira ele diz:
"O estilo de Machado de Assis não se distingue elo colorido, pela força imaginativa da representação sensível, pela variedade do vocabulário. [...] O nosso romancista não tem grande fantasia representativa, Em seus livros de prosa, como nos versos, [...] falta completamente a paisagem, falham as descrições, as cenas da natureza, tão abundantes em Alencar e as da história da vida humana, tão notáveis em Herculano e em Eça de Queiroz. [...] O estilo de Machado de Assis é a fotografia exata do seu espírito, de sua índole psicológica indecisa. Correto e maneiroso, não é vivace, nem rútilo, nem grandioso, nem eloqüente. É plácido e igual. Uniforme e compassado. Sente-se que o autor não dispõe profusamente, espontaneamente, do vocabulário e da frase. Vê-se que ele tropeça, que sofre de uma perturbação qualquer nos órgãos da linguagem [...} Machado de Assis repisa, repete, torce e retorce tanto suas idéias e as palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão de um tal ou qual tartamudear."[3]
Por aí se vê que a crítica de Sílvio Romero a respeito do autor de Memórias póstumas de Brás Cubas, se detém em dois aspectos da ficção machadiana – segundo ele, negativos. Justamente dois aspectos que elevaram o romancista à categoria de um dos maiores ficcionistas da nossa literatura, ou seja: a superação da cor local ( ou a idéia estritamente nacionalizante) e o trabalho interno da forma, irônica, implícita e perspicaz, flagrando as contradições da burguesia fluminense, revelado no comportamento de suas relações. Justamente são esses aspectos que Sílvio Romero compara à limitada linguagem do tartamudo, ou gago.
Outro exemplo interessante de explicação para o ufanismo no nosso comportamento cultural nos vem de Araripe Júnior. Segundo ele, no primeiro século de nossa colonização, o colonizador se vê tomado, ou melhor, vampirizado pela influência da terra tropical, produzindo no descendente europeu uma regressão, ou um “desbaratamento estético e moral” nas camadas civilizadas dos portugueses, ao atravessarem o Atlântico e fixarem seu habitat na América do Sul. A esse efeito, o crítico chama de obnubilação brasílica: [4]
"Qual foi o sentimento que se gerou no português logo que se sentiu abandonado às suas próprias forças no solo americano? Qual a nova direção que tomaram suas faculdades estéticas em conseqüência dessa queda psíquica, ou para exprimir-me melhor – dessa regressão ao tipo mental inferior, por desagregação da placenta européia? Nessas condições o colono e o aventureiro, quando mais se afastavam da costa e dos pequenos núcleos de segurança, mais se animalizavam, descendo à escala do progresso psicológico." (ARARIPE – Gregório de Matos, pp. 310 a 312, op. cit.)
É clara a influência do meio segundo as teorias deterministas e evolucionistas da época (meio e raça propagadas por Darwin e Spencer) na elaboração de Araripe Júnior. Aliás, a filosofia disseminada por Tobias Barreto, na Escola do Recife, impregnava toda essa geração de intelectuais. Curiosamente, ao mesmo tempo que ele vê uma positividade na “obnubilação” do português, rendendo-se à terra brasileira incivilizada, credita este efeito ao “tipo mental inferior”. A originalidade da crítica de Araripe Júnior fica por conta de uma certa inversão de valores. A crítica brasileira da época, por estar imbuída dessas teorias, realçava o aspecto de dominação européia sobre os primitivos habitantes da terra e esmiuçava os textos dos primeiros viajantes em que era visível o discurso de estranhamento e de preconceito (com raras exceções) pelos meios e costumes dos autóctones e o crédito ao tom de superioridade cultural dos autores. Araripe opera uma inversão quando maximiza a influência da terra sobre o comportamento secular, civilizado e cultural, do português, a ponto de este se ver tomado por uma “animalização”:
"Nessas condições o colono e o aventureiro, quanto mais se afastavam da costa e dos pequenos núcleos de segurança, mais se animalizavam, descendo à escala do progresso psicológico." (ARARIPE, Gregório de Matos, p. 311, grifos meus)
Bem contados os argumentos, o crítico aproximava-se, na verdade, da teoria do atavismo, mas como uma inversão no mínimo original para a época. Os antropólogos da linha ariana empregavam o conceito de atavismo para as raças ditas “inferiores”. Sendo assim, um núcleo populacional que permanecesse longe da influência civilizatória, quando posto em contato com essa mesma influência, entraria em conflito e regrediria de uma relativa pacificidade aos instintos mais bárbaros de seus ancestrais. Euclides da Cunha, embora com vista de longo alcance, em não poucos momentos de Os sertões, analise por esse prisma o comportamento dos sertanejos e as vicissitudes de Canudos.
Em Araripe Júnior é a própria raça “superior” que se vê degradada, animalizada em contato com a terra tropical e seus habitantes. Do ponto de vista cultural, envolvendo a estética e a religiosidade européias, a metáfora do “obnubilamento”, contida no sol dos trópicos, também produz uma cegueira regressiva:
"É assim que no próprio Anchieta vemos o misticismo diluir-se em um curioso naturalismo e a sua teologia transformar-se genialmente em fetichismo para realizar a obra de catequese dos índios." (ARARIPE, Gregório de Matos, p. 311)
Dessa maneira, o teatro de Anchieta que, via de regra, é visto como uma obra de inteligente interculturação entre os padrões estéticos, religiosos e morais da civilização ocidental e a cultura “bárbara” dos primitivos habitantes (levando-se em conta a manipulação ideológica da ação colonizadora) é analisado por Araripe como uma caída para o naturalismo fetichista, uma mística “genialmente” diluída pelo fetiche. O outro lado – a barbárie – é contemplada com o elogio implícito à natureza ímpar que vence a civilização. Sendo vencida, a parte civilizada – apesar de degradada – torna-se paradoxalmente engrandecida pela natureza dionisíaca e soberana, da qual é vítima.. É assim que se entende o fetichismo genial de Anchieta. O discurso de Araripe não é, pois, simplesmente unívoco, e sim dialeticamente ambíguo.
Pode-se dizer que a metáfora do obnubilamento concorreu e coincidiu com outros discursos, ficcionais e não ficionais, como um dos pontos de partida para o entendimento das teses do ufanismo, do nacionalismo, da antropofagia oswaldiana e de todo o movimento tropicalista que influiu na história da cultura e da literatura brasileira, com seus pontos altos e suas aterrissagens forçadas, com sua ideologia e sua contra-ideologia. 5 Por trás de quase quatro séculos do início da colonização, as mudanças ocorridas no organismo social dos países desenvolvidos – e que se refletem majoritariamente no campo sócio-econômico do nosso país – são quase sempre postas em confronto (vantajoso para nós) com o esplendor do sol e a riqueza da terra.
Falei no início da dificuldade de enfrentarmos nossa filiação à cultura européia e de como isso gerou e gera ainda um constrangimento até hoje apreensível nos nossos meios culturais e acadêmicos. Se estou debatendo o problema é no intuito de delinear os pontos polêmicos e de apontar uma linha crítica que tenta superar, dialeticamente, este mal-estar. E por falar em dialética, vejamos os pontos de vista críticos de Antonio Candido, o qual opera justamente no confronto entre dois pontos de vistas aparentemente opostos que é o solo social e a forma estética; ou ainda como se costuma dizer: o contexto e o texto literário. Com vistas à superação deste surrado antagonismo, Antonio Candido trabalha com um modelo de análise materialista do texto ficcional.
Em vários momentos de sua crítica ele constrói um ponto de vista teórico baseado na dependência e na superação de nossa literatura, mediante o estudo da forma, na prosa e na poesia. Indica ainda os dois fenômenos que pontuaram as manifestações literárias no país, chamados por ele de cópia e rejeição. O primeiro fenômeno se manifesta no estrito servilismo aos modelos estrangeiros, característico de um “país novo” e da sua “consciência amena do atraso”. 6 O segundo fenômeno, o da rejeição, manifesta-se nos anos seguintes à proclamação da República, em que se rejeitaria o pai colonizador no afã da maioridade política e cultural.
Em ambos os casos, o crítico registra a ambivalência de procedimentos, que, vistos de um certo ângulo, podem ser complementares. Dessa maneira, a rejeição, que se materializaria em certa produção regionalista e pitoresca, ainda assim estaria na dependência daquilo que os países desenvolvidos esperavam do nosso atraso, pois “insinuando um regionalismo que, ao parecer afirmação da identidade nacional, pode ser na verdade um modo insuspeitado de oferecer à sensibilidade européia o exotismo que ela desejava por desfastio; e que assim se torna forma aguda de dependência na independência” (CANDIDO, Literatura e subdesenvolvimento, p. 157)
A superação destas duas tendências pode ser observada a partir dos romances de 30, os chamados “romances do nordeste” cujo conteúdo sócio-cultural já expressariam a consciência do subdesenvolvimento, “... por meio da tensão entre o dado local (que se apresenta como substância da expressa) e os moldes herdados da tradição européia (que se apresentam como forma da expressão)” 7 retomando, inclusive, a tradição romanesca de Machado de Assis naquilo que ela tem de mais crítica.
Antonio Candido chama de uma conduta dialética esse processo que rege os nossos movimentos entre o localismo e o cosmopolitismo. Segundo ele,
"O intelectual brasileiro, procurando identificar-se a esta civilização, se encontra todavia ante particularidades de meio, raça e história, nem sempre correspondentes aos padrões europeus que a educação lhes propõe, e que por vezes se elevam em face deles como elementos divergentes, aberrantes. A referida dialética e, portanto grande parte de nossa dinâmica espiritual se nutre desse dilaceramento, que observamos desde Gregório de Matos no século XVIII, até o sociologicamente expressivo “Grito imperioso de brancura em mim” – de Mário de Andrade – que exprime sob a forma de um desabafo individual, uma ânsia coletiva de afirmar componentes europeus da nossa formação." (Literatura e cultura, p. 110)
Essa dialética dilacerada ou constrangida que, mais uma vez, assinala a ambigüidade da dependência, também é salientada por Roberto Schwarz, em Oswald de Andrade, na conhecida frase de seu Manifesto Antropófago – Tupi or not tupi, that is the question – ou seja como diz Schwarz a respeito dessa involuntária dependência.: “...a busca da identidade nacional passando pela língua inglesa, por uma citação clássica e um trocadilho – diz muito desse impasse.” 8
Em vários de seus trabalhos críticos, Antonio Candido retoma objetivamente a questão, construindo a superação do problema da cópia e da originalidade através da análise detalhada da organização da obra, em que o contexto se materializa em forma. É claro que esta crítica materialista do texto literário (ainda chamada, muitas vezes e desfavoravelmente, de crítica de esquerda) comporta seus riscos. Um dos mais evidentes é a falta de mediação estética – esta sim muito importante – entre o texto e o contexto.
Por outro lado, a prática da análise formal das obras – praticada pelos formalistas e, principalmente, pelos estruturalistas – é bem mais fácil e confortável para o crítico.
Ao prender o texto nas malhas da forma, o crítico estruturalista lida apenas com significantes textuais, com determinadas constatações formais e mecânicas; ou seja ainda: lida com abstrações, uma vez que a relação do material lingüístico com o dado externo, do qual ele parte, é posta de lado com uma evidente tomada de posição aistórica.
Antonio Candido dá conta destes dois riscos e explica seus entraves, apontando a superação deles:
"... antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois, chegou-se à posição oposta, procurando mostrar que a matéria de uma obra é secundária, e que sua
importância deriva das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, sobretudo social, considerado inoperante como elemento de compreensão. " Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava os fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” ( Crítica e sociologia. Literatura e sociedade, op. cit. p. 04.)
No seu texto crítico - A dialética da malandragem - 10 Antonio Candido formaliza a integração do contexto ao texto literário, ao analisar o romance de Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um sargento de milícias. O crítico define o ponto de vista estrutural da obra a partir dos elementos que a compõem, assinalando uma representação do Brasil-Colônia, na primeira metade do século XIX, Assim, ele apreende um movimento que vai da “ordem à desordem”, configurando o universo da sociedade brasileira daquele tempo, entre o hemisfério constituído pela precária ordem institucional dos oficiais de Justiça, dos meirinhos, do clero e da própria milícia, protagonizada pelo Major Vidigal, e o hemisfério da boêmia, dos terreiros de feitiçaria, dos amores clandestinos e, enfim, daqueles que se colocavam à mercê das sansões do Rei. Antonio Candido demonstra como a estrutura do romance faz com que estes dois pólos – o da ordem e o da desordem – transitem de um para o outro, através de seus personagens, compondo o “mundo sem culpa” bem característico de uma, sociedade na qual uns poucos livres trabalham e os outros flauteiam ao Deus dará, colhendo as sobras do parasitismo, dos expedientes, das munificências, da sorte ou do roubo miúdo [...] com uma naturalidade que lembra o modo de formação das famílias, dos prestígios, das fortunas, das reputações, no Brasil urbano da primeira metade do século XIX. (Dialética da malandragem, op. cit., pp. 44/45)
Ainda em outro lugar trabalho chamado de Cortiço à cortiço , ele compara os desdobramentos estruturais do naturalismo francês, através do romance L´Assomoir, de Zola e O cortiço de Aluísio de Azevedo. E aí fica patente como o modelo importado, que ele define como forma da expressão, torna-se um modelo diferenciado através daquilo que ele define como a substância da expressão. Ou seja, a matéria brasileira, sua organização sócio-cultural construindo uma forma até certo ponto diferenciada do modelo francês do qual ele partiu, por meio da fidelidade ao contexto.
Assim, ele define o resultado da análise que se volta para o “problema da filiação de textos e de fidelidade aos contextos”, dizendo que “ao mesmo tempo Aluísio quis reproduzir e interpretar a realidade que o cercava, e sob este aspecto elaborou um texto primeiro.Texto primeiro na medida em que filtra o meio; texto segundo na medida em que vê o meio com lentes tomadas de empréstimo.” 9
O trabalho crítico revela alguns dados estruturais diferenciados entre os dois romances. Partindo de uma ideologia que determinava o homem como produto, de modo absoluto, as duas narrativas se estruturam em torno de cortiços. Mas Antonio Candido mostra a diferença entre o cortiço do romance francês e o do brasileiro. Em Zola, a ação se passa quase que inteiramente em um bairro operário de Paris, sem que haja interpenetração entre a classe burguesa e a proletária, evidenciando o dado de um contexto em que as classes eram realmente diferenciadas, inclusive em seus espaços. Em Aluísio,
Ao contrário de L´Assomoir, trata-se de uma história de trabalhadores intimamente ligados ao projeto econômico de um ganhador de dinheiro, por isso o romancista pôs ao lado da habitação coletiva dos pobres o sobrado dos ricos, meta visada pelo próprio João Romão. [...] A originalidade do romance de Aluísio está na coexistência íntima do explorado e do explorador, tornada logicamente possível pela própria natureza elementar da acumulação num país que economicamente ainda era semicolonial. (De cortiço a cortiço, p. 126)
Ainda falando dos espaços diferenciados e de como eles interferem na lógica dos respectivos romances, o crítico assinala que:
O cortiço francês em L´Assomoir é segregado da natureza e sobe verticalmente com seus seis andares na paisagem urbana espremida pela falta de terreno. O cortiço brasileiro é horizontal ao modo de uma senzala, embora no fim, quando o proprietário progride, adquire um perfil mais urbano e um mínimo de verticalização nos dois andares de uma parte nova da vila. Além disso, cria frangos e porcos, convive com hortas, a árvore e o capim invade terrenos baldios e vai para o lado da pedreira que João Romão explora.
Ligado à natureza, que no Brasil ainda era presença a ser domada, ele cresce, se estende, aumenta de volume e é conseqüentemente tratado pelo romancista como realidade orgânica, por meio de imagens orgânicas que o animam e fazem dele uma espécie de continuação do mundo natural. (De cortiço a cortiço, p. 134)
Além do mais, Antonio Candido revela um dado novo da composição do romance que, numa leitura mais de superfície, sempre é visto a partir do ponto de vista da oposição entre o português explorador e o brasileiro explorado. O crítico recoloca a questão de um ponto de vista mais profundo e estrutural, ou seja, o modo como o capital se desenvolve num país de economia periférica e a maneira como ele se assume, transformando-se em um dos princípios ordenadores do entrecho romanesco.
Desta maneira, o ponto de vista de muitos críticos, que enxergavam apenas o confronto entre o português explorador e o brasileiro explorado, numa análise dualista, se desfaz quando se constata as relações ordenadoras do romance. Roberto Schwarz, comentando a originalidade deste trabalho de Antonio Candido, define o ponto de vista a que chegou o último:
João Romão é um taverneiro português, fanaticamente acumulador, que não tem medo de trabalhar pesado, de se privar de tudo, de roubar o que for possível, ou de amigar-se com uma escrava, a quem usa de todas as maneiras. Aos poucos põe de pé um cortiço, onde explora indistintamente brasileiros e portugueses, brancos e negros, até ficar rico e entrar para a sociedade apresentável. O enriquecimento, perseguido com determinação alucinada, confere ao romance uma linha central de grande consistência e nitidez. Em sentido óbvio, esta decorre da motivação ou personalidade de João Romão. Mais profundamente, o crítico nota que ela apreende, pela primeira vez na literatura brasileira, o ritmo de acumulação do capital, nas condições peculiares do país. 10
Assim, posta de lado a noção da cópia e do original, vemos que o problema literário reside no âmbito que estrutura o projeto ficcional de uma determinada obra. Cabe ao crítico desentranhar e reordenar sua base formal, sempre atento aos vários signos que mobilizam o discurso social, ou ainda o contexto, e assim tornar possível a originalidade de sua crítica dentro do espetáculo caleidoscópio da cidade.
Levando-se em conta os argumentos apresentados, a ficção brasileira, através dos mais representativos autores, vem transformando em problema literário 11– no sentido positivo do termo – a estrutura de suas obras quando vistas em íntima relação com o chão histórico. E nesse aspecto, a crítica de Antonio Candido torna-se um bom exemplo desse contexto materializado em forma.
NOTAS:
[1] Alguns exemplos de ufanismo, temas do índice. Primeiro motivo de superioridade do Brasil: a sua grandeza territorial; V. Segundo motivo de superioridade: a sua beleza; VI. Terceiro motivo: o Amazonas; VII. A Cachoeira de Paulo Afonso; IX. A Baía do Rio de Janeiro; XII. Quarto motivo: a sua riqueza natural; e uma última amostragem: Sétimo motivo de superioridade do Brasil: nobres predicados do caráter nacional. In: Porque me ufano do meu país. Versão para Book e BooksBrasil. Fonte digital: Digitalização de edição em papel Laemert $ C. Livreiros – Editores, 1908.
[2] Idem: XXXIX: A escravidão no Brasil XXII. predicados do caráter nacional.
[3] ROMERO , Sílvio. História da Literatura brasileira. 7 ed., Rio de Janeiro: José Olympio/INL/MEC, 1980, 5 vol, p. 1506.
[4] ARARIPE JÚNIOR. Estilo tropical e Gregório de Matos. In: Araripe Jjúnior: teoria, crítica e história literária. Seleção e apresentação de Alfredo Bosi. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1978. Sobre a obnubilação brasílica, o crítico diz: “Na Introdução da Literatura brasileira declarei que na crítica dos materiais da história nacional tinha-me deixado impressionar profundamente pelos que se referem à lei assim pitorescamente denominada. Essa lei constitui o eixo dos meus trabalhos sobre o Brasil.” (op. cit, p. 310 ) .
[5] Ver a propósito da antropofagia oswaldiana e do movimento tropicalista o texto de Roberto Schwarz: O bonde, a carroça e o poeta modernista e Nacional por subtração. In: Que horas são?. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
[6] CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: Educação pela noite. São Paulo: Ática, 1987, p157.
[7] CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: Literatura e sociedade. 5 ed.. São Paulo: Editora Nacional, 1976, p. 110.
[8] SCHWARZ, Roberto. Nacional por subtração. In: Que horas são?, Op. cit. p. 32.
[9] CANDIDO, Antonio. Critica e sociologia. Literatura e sociedade. Op. cit., p. 04.
[10] SCHWARZ Roberto. Originalidade da crítica de Antonio Candido. São Paulo: Novos estudos CEBRAP, no 32. mar/1992, p. 40. Republicado em Seqüências brasileiras: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
[11] SCHWARZ, Roberto: um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990, p. 11. Sobre o emprego deste “problema literário”, Schwarz explica: “Ao transpor para o estilo as relações sociais que observa, ou seja, ao interiorizar o país e o tempo, Machado compunha uma expressão da sociedade real, sociedade horrendamente dividida, em situação muito particular, em parte inconfessável. Nos antípodas da pátria romântica. O ‘homem do seu tempo e de seu país’ deixava de ser um ideal e fazia figura de problema.”
É sabido que desde o Romantismo – a fase considerada da “maioridade” de nossa literatura – a busca da identidade nacional e a afirmação da nacionalidade freqüentaram tanto as produções literárias como a crítica especializada da época. Hoje, qualquer estudante do curso de Letras sabe que José de Alencar, Gonçalves dias ou Castro Alves, entre outro dos nossos românticos, se empenharam em dotar suas obras dessa feição nacionalizante e dessa afirmação de país novo, fixando as cores tropicais como originalidade da incipiente nação. Essa busca da identidade nacional contribuiu, com excessos, para a noção de um ufanismo, ora ingênuo ora desbragado, que tanto marcou e – convenhamos – ainda marca a mentalidade do país. Em 1908, o Conde Afonso Celso – mineiro de boa cepa – escreveu o livro Porque me ufano do meu país, com muito sucesso entre a elite letrada e a intelectualidade brasileira. Nele está um bom exemplo de um ufanismo ingênuo e bastante tendencioso das mazelas de nossa colonização. Um rápido olhar no seu índice composto de 42 itens nos dá a medida desse desmedido orgulho. [1] Sobre a escravidão, o Conde Afonso Celso argumenta em favor da positividade do tratamento que se dava ao escravo e de como sua libertação foi feita de maneira “honrosa”:
Se é exato que o Brasil se demorou a abolir a escravidão, não menos certo que em parte alguma a questão foi solvida de modo mais inteligente e honroso.
Não nos deve envergonhar o fato de havermos mantido a maldita instituição. Quase todos os povos o (sic) praticaram.[2]
Na segunda metade do século XIX, a crítica literária, ainda tateante, foi marcadamente de feição nacionalista, na tentativa de dotar o país de sua identidade nacional pós independência.Tanto Sílvio Romero como Araripe Júnior e José Veríssimo laboraram na crítica da literatura e da cultura. O primeiro deles antipatizava com a ficção de Machado de Assis por achá-la impregnada da influência dos romances ingleses. A certa altura de sua História da literatura brasileira ele diz:
"O estilo de Machado de Assis não se distingue elo colorido, pela força imaginativa da representação sensível, pela variedade do vocabulário. [...] O nosso romancista não tem grande fantasia representativa, Em seus livros de prosa, como nos versos, [...] falta completamente a paisagem, falham as descrições, as cenas da natureza, tão abundantes em Alencar e as da história da vida humana, tão notáveis em Herculano e em Eça de Queiroz. [...] O estilo de Machado de Assis é a fotografia exata do seu espírito, de sua índole psicológica indecisa. Correto e maneiroso, não é vivace, nem rútilo, nem grandioso, nem eloqüente. É plácido e igual. Uniforme e compassado. Sente-se que o autor não dispõe profusamente, espontaneamente, do vocabulário e da frase. Vê-se que ele tropeça, que sofre de uma perturbação qualquer nos órgãos da linguagem [...} Machado de Assis repisa, repete, torce e retorce tanto suas idéias e as palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão de um tal ou qual tartamudear."[3]
Por aí se vê que a crítica de Sílvio Romero a respeito do autor de Memórias póstumas de Brás Cubas, se detém em dois aspectos da ficção machadiana – segundo ele, negativos. Justamente dois aspectos que elevaram o romancista à categoria de um dos maiores ficcionistas da nossa literatura, ou seja: a superação da cor local ( ou a idéia estritamente nacionalizante) e o trabalho interno da forma, irônica, implícita e perspicaz, flagrando as contradições da burguesia fluminense, revelado no comportamento de suas relações. Justamente são esses aspectos que Sílvio Romero compara à limitada linguagem do tartamudo, ou gago.
Outro exemplo interessante de explicação para o ufanismo no nosso comportamento cultural nos vem de Araripe Júnior. Segundo ele, no primeiro século de nossa colonização, o colonizador se vê tomado, ou melhor, vampirizado pela influência da terra tropical, produzindo no descendente europeu uma regressão, ou um “desbaratamento estético e moral” nas camadas civilizadas dos portugueses, ao atravessarem o Atlântico e fixarem seu habitat na América do Sul. A esse efeito, o crítico chama de obnubilação brasílica: [4]
"Qual foi o sentimento que se gerou no português logo que se sentiu abandonado às suas próprias forças no solo americano? Qual a nova direção que tomaram suas faculdades estéticas em conseqüência dessa queda psíquica, ou para exprimir-me melhor – dessa regressão ao tipo mental inferior, por desagregação da placenta européia? Nessas condições o colono e o aventureiro, quando mais se afastavam da costa e dos pequenos núcleos de segurança, mais se animalizavam, descendo à escala do progresso psicológico." (ARARIPE – Gregório de Matos, pp. 310 a 312, op. cit.)
É clara a influência do meio segundo as teorias deterministas e evolucionistas da época (meio e raça propagadas por Darwin e Spencer) na elaboração de Araripe Júnior. Aliás, a filosofia disseminada por Tobias Barreto, na Escola do Recife, impregnava toda essa geração de intelectuais. Curiosamente, ao mesmo tempo que ele vê uma positividade na “obnubilação” do português, rendendo-se à terra brasileira incivilizada, credita este efeito ao “tipo mental inferior”. A originalidade da crítica de Araripe Júnior fica por conta de uma certa inversão de valores. A crítica brasileira da época, por estar imbuída dessas teorias, realçava o aspecto de dominação européia sobre os primitivos habitantes da terra e esmiuçava os textos dos primeiros viajantes em que era visível o discurso de estranhamento e de preconceito (com raras exceções) pelos meios e costumes dos autóctones e o crédito ao tom de superioridade cultural dos autores. Araripe opera uma inversão quando maximiza a influência da terra sobre o comportamento secular, civilizado e cultural, do português, a ponto de este se ver tomado por uma “animalização”:
"Nessas condições o colono e o aventureiro, quanto mais se afastavam da costa e dos pequenos núcleos de segurança, mais se animalizavam, descendo à escala do progresso psicológico." (ARARIPE, Gregório de Matos, p. 311, grifos meus)
Bem contados os argumentos, o crítico aproximava-se, na verdade, da teoria do atavismo, mas como uma inversão no mínimo original para a época. Os antropólogos da linha ariana empregavam o conceito de atavismo para as raças ditas “inferiores”. Sendo assim, um núcleo populacional que permanecesse longe da influência civilizatória, quando posto em contato com essa mesma influência, entraria em conflito e regrediria de uma relativa pacificidade aos instintos mais bárbaros de seus ancestrais. Euclides da Cunha, embora com vista de longo alcance, em não poucos momentos de Os sertões, analise por esse prisma o comportamento dos sertanejos e as vicissitudes de Canudos.
Em Araripe Júnior é a própria raça “superior” que se vê degradada, animalizada em contato com a terra tropical e seus habitantes. Do ponto de vista cultural, envolvendo a estética e a religiosidade européias, a metáfora do “obnubilamento”, contida no sol dos trópicos, também produz uma cegueira regressiva:
"É assim que no próprio Anchieta vemos o misticismo diluir-se em um curioso naturalismo e a sua teologia transformar-se genialmente em fetichismo para realizar a obra de catequese dos índios." (ARARIPE, Gregório de Matos, p. 311)
Dessa maneira, o teatro de Anchieta que, via de regra, é visto como uma obra de inteligente interculturação entre os padrões estéticos, religiosos e morais da civilização ocidental e a cultura “bárbara” dos primitivos habitantes (levando-se em conta a manipulação ideológica da ação colonizadora) é analisado por Araripe como uma caída para o naturalismo fetichista, uma mística “genialmente” diluída pelo fetiche. O outro lado – a barbárie – é contemplada com o elogio implícito à natureza ímpar que vence a civilização. Sendo vencida, a parte civilizada – apesar de degradada – torna-se paradoxalmente engrandecida pela natureza dionisíaca e soberana, da qual é vítima.. É assim que se entende o fetichismo genial de Anchieta. O discurso de Araripe não é, pois, simplesmente unívoco, e sim dialeticamente ambíguo.
Pode-se dizer que a metáfora do obnubilamento concorreu e coincidiu com outros discursos, ficcionais e não ficionais, como um dos pontos de partida para o entendimento das teses do ufanismo, do nacionalismo, da antropofagia oswaldiana e de todo o movimento tropicalista que influiu na história da cultura e da literatura brasileira, com seus pontos altos e suas aterrissagens forçadas, com sua ideologia e sua contra-ideologia. 5 Por trás de quase quatro séculos do início da colonização, as mudanças ocorridas no organismo social dos países desenvolvidos – e que se refletem majoritariamente no campo sócio-econômico do nosso país – são quase sempre postas em confronto (vantajoso para nós) com o esplendor do sol e a riqueza da terra.
Falei no início da dificuldade de enfrentarmos nossa filiação à cultura européia e de como isso gerou e gera ainda um constrangimento até hoje apreensível nos nossos meios culturais e acadêmicos. Se estou debatendo o problema é no intuito de delinear os pontos polêmicos e de apontar uma linha crítica que tenta superar, dialeticamente, este mal-estar. E por falar em dialética, vejamos os pontos de vista críticos de Antonio Candido, o qual opera justamente no confronto entre dois pontos de vistas aparentemente opostos que é o solo social e a forma estética; ou ainda como se costuma dizer: o contexto e o texto literário. Com vistas à superação deste surrado antagonismo, Antonio Candido trabalha com um modelo de análise materialista do texto ficcional.
Em vários momentos de sua crítica ele constrói um ponto de vista teórico baseado na dependência e na superação de nossa literatura, mediante o estudo da forma, na prosa e na poesia. Indica ainda os dois fenômenos que pontuaram as manifestações literárias no país, chamados por ele de cópia e rejeição. O primeiro fenômeno se manifesta no estrito servilismo aos modelos estrangeiros, característico de um “país novo” e da sua “consciência amena do atraso”. 6 O segundo fenômeno, o da rejeição, manifesta-se nos anos seguintes à proclamação da República, em que se rejeitaria o pai colonizador no afã da maioridade política e cultural.
Em ambos os casos, o crítico registra a ambivalência de procedimentos, que, vistos de um certo ângulo, podem ser complementares. Dessa maneira, a rejeição, que se materializaria em certa produção regionalista e pitoresca, ainda assim estaria na dependência daquilo que os países desenvolvidos esperavam do nosso atraso, pois “insinuando um regionalismo que, ao parecer afirmação da identidade nacional, pode ser na verdade um modo insuspeitado de oferecer à sensibilidade européia o exotismo que ela desejava por desfastio; e que assim se torna forma aguda de dependência na independência” (CANDIDO, Literatura e subdesenvolvimento, p. 157)
A superação destas duas tendências pode ser observada a partir dos romances de 30, os chamados “romances do nordeste” cujo conteúdo sócio-cultural já expressariam a consciência do subdesenvolvimento, “... por meio da tensão entre o dado local (que se apresenta como substância da expressa) e os moldes herdados da tradição européia (que se apresentam como forma da expressão)” 7 retomando, inclusive, a tradição romanesca de Machado de Assis naquilo que ela tem de mais crítica.
Antonio Candido chama de uma conduta dialética esse processo que rege os nossos movimentos entre o localismo e o cosmopolitismo. Segundo ele,
"O intelectual brasileiro, procurando identificar-se a esta civilização, se encontra todavia ante particularidades de meio, raça e história, nem sempre correspondentes aos padrões europeus que a educação lhes propõe, e que por vezes se elevam em face deles como elementos divergentes, aberrantes. A referida dialética e, portanto grande parte de nossa dinâmica espiritual se nutre desse dilaceramento, que observamos desde Gregório de Matos no século XVIII, até o sociologicamente expressivo “Grito imperioso de brancura em mim” – de Mário de Andrade – que exprime sob a forma de um desabafo individual, uma ânsia coletiva de afirmar componentes europeus da nossa formação." (Literatura e cultura, p. 110)
Essa dialética dilacerada ou constrangida que, mais uma vez, assinala a ambigüidade da dependência, também é salientada por Roberto Schwarz, em Oswald de Andrade, na conhecida frase de seu Manifesto Antropófago – Tupi or not tupi, that is the question – ou seja como diz Schwarz a respeito dessa involuntária dependência.: “...a busca da identidade nacional passando pela língua inglesa, por uma citação clássica e um trocadilho – diz muito desse impasse.” 8
Em vários de seus trabalhos críticos, Antonio Candido retoma objetivamente a questão, construindo a superação do problema da cópia e da originalidade através da análise detalhada da organização da obra, em que o contexto se materializa em forma. É claro que esta crítica materialista do texto literário (ainda chamada, muitas vezes e desfavoravelmente, de crítica de esquerda) comporta seus riscos. Um dos mais evidentes é a falta de mediação estética – esta sim muito importante – entre o texto e o contexto.
Por outro lado, a prática da análise formal das obras – praticada pelos formalistas e, principalmente, pelos estruturalistas – é bem mais fácil e confortável para o crítico.
Ao prender o texto nas malhas da forma, o crítico estruturalista lida apenas com significantes textuais, com determinadas constatações formais e mecânicas; ou seja ainda: lida com abstrações, uma vez que a relação do material lingüístico com o dado externo, do qual ele parte, é posta de lado com uma evidente tomada de posição aistórica.
Antonio Candido dá conta destes dois riscos e explica seus entraves, apontando a superação deles:
"... antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois, chegou-se à posição oposta, procurando mostrar que a matéria de uma obra é secundária, e que sua
importância deriva das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, sobretudo social, considerado inoperante como elemento de compreensão. " Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava os fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” ( Crítica e sociologia. Literatura e sociedade, op. cit. p. 04.)
No seu texto crítico - A dialética da malandragem - 10 Antonio Candido formaliza a integração do contexto ao texto literário, ao analisar o romance de Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um sargento de milícias. O crítico define o ponto de vista estrutural da obra a partir dos elementos que a compõem, assinalando uma representação do Brasil-Colônia, na primeira metade do século XIX, Assim, ele apreende um movimento que vai da “ordem à desordem”, configurando o universo da sociedade brasileira daquele tempo, entre o hemisfério constituído pela precária ordem institucional dos oficiais de Justiça, dos meirinhos, do clero e da própria milícia, protagonizada pelo Major Vidigal, e o hemisfério da boêmia, dos terreiros de feitiçaria, dos amores clandestinos e, enfim, daqueles que se colocavam à mercê das sansões do Rei. Antonio Candido demonstra como a estrutura do romance faz com que estes dois pólos – o da ordem e o da desordem – transitem de um para o outro, através de seus personagens, compondo o “mundo sem culpa” bem característico de uma, sociedade na qual uns poucos livres trabalham e os outros flauteiam ao Deus dará, colhendo as sobras do parasitismo, dos expedientes, das munificências, da sorte ou do roubo miúdo [...] com uma naturalidade que lembra o modo de formação das famílias, dos prestígios, das fortunas, das reputações, no Brasil urbano da primeira metade do século XIX. (Dialética da malandragem, op. cit., pp. 44/45)
Ainda em outro lugar trabalho chamado de Cortiço à cortiço , ele compara os desdobramentos estruturais do naturalismo francês, através do romance L´Assomoir, de Zola e O cortiço de Aluísio de Azevedo. E aí fica patente como o modelo importado, que ele define como forma da expressão, torna-se um modelo diferenciado através daquilo que ele define como a substância da expressão. Ou seja, a matéria brasileira, sua organização sócio-cultural construindo uma forma até certo ponto diferenciada do modelo francês do qual ele partiu, por meio da fidelidade ao contexto.
Assim, ele define o resultado da análise que se volta para o “problema da filiação de textos e de fidelidade aos contextos”, dizendo que “ao mesmo tempo Aluísio quis reproduzir e interpretar a realidade que o cercava, e sob este aspecto elaborou um texto primeiro.Texto primeiro na medida em que filtra o meio; texto segundo na medida em que vê o meio com lentes tomadas de empréstimo.” 9
O trabalho crítico revela alguns dados estruturais diferenciados entre os dois romances. Partindo de uma ideologia que determinava o homem como produto, de modo absoluto, as duas narrativas se estruturam em torno de cortiços. Mas Antonio Candido mostra a diferença entre o cortiço do romance francês e o do brasileiro. Em Zola, a ação se passa quase que inteiramente em um bairro operário de Paris, sem que haja interpenetração entre a classe burguesa e a proletária, evidenciando o dado de um contexto em que as classes eram realmente diferenciadas, inclusive em seus espaços. Em Aluísio,
Ao contrário de L´Assomoir, trata-se de uma história de trabalhadores intimamente ligados ao projeto econômico de um ganhador de dinheiro, por isso o romancista pôs ao lado da habitação coletiva dos pobres o sobrado dos ricos, meta visada pelo próprio João Romão. [...] A originalidade do romance de Aluísio está na coexistência íntima do explorado e do explorador, tornada logicamente possível pela própria natureza elementar da acumulação num país que economicamente ainda era semicolonial. (De cortiço a cortiço, p. 126)
Ainda falando dos espaços diferenciados e de como eles interferem na lógica dos respectivos romances, o crítico assinala que:
O cortiço francês em L´Assomoir é segregado da natureza e sobe verticalmente com seus seis andares na paisagem urbana espremida pela falta de terreno. O cortiço brasileiro é horizontal ao modo de uma senzala, embora no fim, quando o proprietário progride, adquire um perfil mais urbano e um mínimo de verticalização nos dois andares de uma parte nova da vila. Além disso, cria frangos e porcos, convive com hortas, a árvore e o capim invade terrenos baldios e vai para o lado da pedreira que João Romão explora.
Ligado à natureza, que no Brasil ainda era presença a ser domada, ele cresce, se estende, aumenta de volume e é conseqüentemente tratado pelo romancista como realidade orgânica, por meio de imagens orgânicas que o animam e fazem dele uma espécie de continuação do mundo natural. (De cortiço a cortiço, p. 134)
Além do mais, Antonio Candido revela um dado novo da composição do romance que, numa leitura mais de superfície, sempre é visto a partir do ponto de vista da oposição entre o português explorador e o brasileiro explorado. O crítico recoloca a questão de um ponto de vista mais profundo e estrutural, ou seja, o modo como o capital se desenvolve num país de economia periférica e a maneira como ele se assume, transformando-se em um dos princípios ordenadores do entrecho romanesco.
Desta maneira, o ponto de vista de muitos críticos, que enxergavam apenas o confronto entre o português explorador e o brasileiro explorado, numa análise dualista, se desfaz quando se constata as relações ordenadoras do romance. Roberto Schwarz, comentando a originalidade deste trabalho de Antonio Candido, define o ponto de vista a que chegou o último:
João Romão é um taverneiro português, fanaticamente acumulador, que não tem medo de trabalhar pesado, de se privar de tudo, de roubar o que for possível, ou de amigar-se com uma escrava, a quem usa de todas as maneiras. Aos poucos põe de pé um cortiço, onde explora indistintamente brasileiros e portugueses, brancos e negros, até ficar rico e entrar para a sociedade apresentável. O enriquecimento, perseguido com determinação alucinada, confere ao romance uma linha central de grande consistência e nitidez. Em sentido óbvio, esta decorre da motivação ou personalidade de João Romão. Mais profundamente, o crítico nota que ela apreende, pela primeira vez na literatura brasileira, o ritmo de acumulação do capital, nas condições peculiares do país. 10
Assim, posta de lado a noção da cópia e do original, vemos que o problema literário reside no âmbito que estrutura o projeto ficcional de uma determinada obra. Cabe ao crítico desentranhar e reordenar sua base formal, sempre atento aos vários signos que mobilizam o discurso social, ou ainda o contexto, e assim tornar possível a originalidade de sua crítica dentro do espetáculo caleidoscópio da cidade.
Levando-se em conta os argumentos apresentados, a ficção brasileira, através dos mais representativos autores, vem transformando em problema literário 11– no sentido positivo do termo – a estrutura de suas obras quando vistas em íntima relação com o chão histórico. E nesse aspecto, a crítica de Antonio Candido torna-se um bom exemplo desse contexto materializado em forma.
NOTAS:
[1] Alguns exemplos de ufanismo, temas do índice. Primeiro motivo de superioridade do Brasil: a sua grandeza territorial; V. Segundo motivo de superioridade: a sua beleza; VI. Terceiro motivo: o Amazonas; VII. A Cachoeira de Paulo Afonso; IX. A Baía do Rio de Janeiro; XII. Quarto motivo: a sua riqueza natural; e uma última amostragem: Sétimo motivo de superioridade do Brasil: nobres predicados do caráter nacional. In: Porque me ufano do meu país. Versão para Book e BooksBrasil. Fonte digital: Digitalização de edição em papel Laemert $ C. Livreiros – Editores, 1908.
[2] Idem: XXXIX: A escravidão no Brasil XXII. predicados do caráter nacional.
[3] ROMERO , Sílvio. História da Literatura brasileira. 7 ed., Rio de Janeiro: José Olympio/INL/MEC, 1980, 5 vol, p. 1506.
[4] ARARIPE JÚNIOR. Estilo tropical e Gregório de Matos. In: Araripe Jjúnior: teoria, crítica e história literária. Seleção e apresentação de Alfredo Bosi. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1978. Sobre a obnubilação brasílica, o crítico diz: “Na Introdução da Literatura brasileira declarei que na crítica dos materiais da história nacional tinha-me deixado impressionar profundamente pelos que se referem à lei assim pitorescamente denominada. Essa lei constitui o eixo dos meus trabalhos sobre o Brasil.” (op. cit, p. 310 ) .
[5] Ver a propósito da antropofagia oswaldiana e do movimento tropicalista o texto de Roberto Schwarz: O bonde, a carroça e o poeta modernista e Nacional por subtração. In: Que horas são?. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
[6] CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: Educação pela noite. São Paulo: Ática, 1987, p157.
[7] CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: Literatura e sociedade. 5 ed.. São Paulo: Editora Nacional, 1976, p. 110.
[8] SCHWARZ, Roberto. Nacional por subtração. In: Que horas são?, Op. cit. p. 32.
[9] CANDIDO, Antonio. Critica e sociologia. Literatura e sociedade. Op. cit., p. 04.
[10] SCHWARZ Roberto. Originalidade da crítica de Antonio Candido. São Paulo: Novos estudos CEBRAP, no 32. mar/1992, p. 40. Republicado em Seqüências brasileiras: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
[11] SCHWARZ, Roberto: um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990, p. 11. Sobre o emprego deste “problema literário”, Schwarz explica: “Ao transpor para o estilo as relações sociais que observa, ou seja, ao interiorizar o país e o tempo, Machado compunha uma expressão da sociedade real, sociedade horrendamente dividida, em situação muito particular, em parte inconfessável. Nos antípodas da pátria romântica. O ‘homem do seu tempo e de seu país’ deixava de ser um ideal e fazia figura de problema.”
sexta-feira, 2 de janeiro de 2009
O Rio de MInha Aldeia
"O Tejo é o mais belo rio que corre pela minha aldeia, Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia." Fernando Pessoa
Ao longe, por sobre o ombro do Hotel Globo, ilumina-se o Rio Sanhauá ao por do sol. Acaricia sonolento as suas margens e a cidade de seu berço: Pa´ra e a´iba que a nomenclatura tupi diz ser um “rio mau”, impraticável, e outros o chamam de “rio que é braço de mar”. A cidade histórica é sua guardiã. Recuada no tempo, surge a Capitania Real da Parayba, em 1574. E o Rio Sanhauá, parceiro do Rio Paraíba, encanta a cidade que se abriu às suas águas, silenciosamente cúmplice de sua história. Assim é o rio da minha aldeia, belo porque é o rio que banha a novel cidade de João Pessoa, sua identidade mais recente, depois de ser liricamente chamada de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, no ato de sua fundação, então sob o domínio colonizado de Felipe II, rei da Espanha e Portugal. Destinada a portar homenagens aos impérios conquistadores, em 1634, sob o domínio holandês, tem sua identidade mudada para Frederica, colocando o selo da Holanda na pessoa do rei Frederico Henrique. Após a retomada dos portugueses, na decantada batalha dos Montes Guararapes, a minha cidade passa a se chamar Parahyba, com muita graça histórica. Cumprindo sua metamorfose identitária, a cidade se reveste do fato trágico da morte do presidente João Pessoa, em 1930. Se a cidade se reveste de novos signos, o Rio Sanhauá apenas contempla essas mudanças. Acompanha também o malogro de suas puras nascentes. Agredido pela desordenada expansão urbana, ele clama por vozes que o ouçam e lhe minorem a degradação. A formação vegetal de sua mata ciliar está quase que totalmente perdida pela ação danosa de sua população ribeirinha que, ao provocar o assoreamento, comprime suas margens, turva suas águas e impede a biodiversidade. Seus manguezais em vias de extinção dificultam a vida dos catadores de caranguejos ao mesmo tempo em que retiram da mesa dos bares esta iguaria que faz a festa das praias domingueiras e dos turistas. Como pária inanimado, ele se irmana aos rios também agredidos que banham as capitais brasileiras. Mas os poetas desenham seu curso em palavras. Assim fala o Tietê de Mario de Andrade, o Capibaribe de Manuel Bandeira e o Sanhauá de Políbio Alves, que o traveste em signos e significados: “Sanhauá irresoluto/ emudece/ espaço Varadouro. Absoluto, arrebenta, cresce /revoltoso guerreiro. Atola/ transparente bicho/ indefeso corpo. Esfola/ fixo/ mineral/ massa impune/ pascenta póstumo/ fulgor matinal.”
Ao longe, por sobre o ombro do Hotel Globo, ilumina-se o Rio Sanhauá ao por do sol. Acaricia sonolento as suas margens e a cidade de seu berço: Pa´ra e a´iba que a nomenclatura tupi diz ser um “rio mau”, impraticável, e outros o chamam de “rio que é braço de mar”. A cidade histórica é sua guardiã. Recuada no tempo, surge a Capitania Real da Parayba, em 1574. E o Rio Sanhauá, parceiro do Rio Paraíba, encanta a cidade que se abriu às suas águas, silenciosamente cúmplice de sua história. Assim é o rio da minha aldeia, belo porque é o rio que banha a novel cidade de João Pessoa, sua identidade mais recente, depois de ser liricamente chamada de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, no ato de sua fundação, então sob o domínio colonizado de Felipe II, rei da Espanha e Portugal. Destinada a portar homenagens aos impérios conquistadores, em 1634, sob o domínio holandês, tem sua identidade mudada para Frederica, colocando o selo da Holanda na pessoa do rei Frederico Henrique. Após a retomada dos portugueses, na decantada batalha dos Montes Guararapes, a minha cidade passa a se chamar Parahyba, com muita graça histórica. Cumprindo sua metamorfose identitária, a cidade se reveste do fato trágico da morte do presidente João Pessoa, em 1930. Se a cidade se reveste de novos signos, o Rio Sanhauá apenas contempla essas mudanças. Acompanha também o malogro de suas puras nascentes. Agredido pela desordenada expansão urbana, ele clama por vozes que o ouçam e lhe minorem a degradação. A formação vegetal de sua mata ciliar está quase que totalmente perdida pela ação danosa de sua população ribeirinha que, ao provocar o assoreamento, comprime suas margens, turva suas águas e impede a biodiversidade. Seus manguezais em vias de extinção dificultam a vida dos catadores de caranguejos ao mesmo tempo em que retiram da mesa dos bares esta iguaria que faz a festa das praias domingueiras e dos turistas. Como pária inanimado, ele se irmana aos rios também agredidos que banham as capitais brasileiras. Mas os poetas desenham seu curso em palavras. Assim fala o Tietê de Mario de Andrade, o Capibaribe de Manuel Bandeira e o Sanhauá de Políbio Alves, que o traveste em signos e significados: “Sanhauá irresoluto/ emudece/ espaço Varadouro. Absoluto, arrebenta, cresce /revoltoso guerreiro. Atola/ transparente bicho/ indefeso corpo. Esfola/ fixo/ mineral/ massa impune/ pascenta póstumo/ fulgor matinal.”
segunda-feira, 22 de dezembro de 2008
Carta aberta ao Senhor Presidente Ignácio Lula da Silva, Presidente do Brasil.
Senhor Presidente,
Nós somos responsáveis pelas organizações políticas e populares haitianas. Nosso povo, o povo haitiano, se libertou a 204 anos das cadeia da escravidão. “nos ousamos ser livres”, declarou Jean Jacques Dessalines, no dia 1º de janeiro de 1804, quando ele proclamou esta que foi a primeira República negra do mundo, sendo chamada, então, de Haiti.
Hoje, nosso país é o mais pobre do continente americano. A carência alimentar abrange, diariamente, 3,3 milhões de nossos cidadãos. Uma vítima para cada 3 habitantes. A expectativa de vida para quem aqui nasce é de apenas 51 anos; 60% da população tenta sobreviver a cada dia com menos de dois dólares. Em nosso país, a taxa de mortalidade infantil é de 80 crianças para 1000 que nascem; enquanto que na França a proporção é de 4 crianças entre mil nascidas e na nossa vizinha ilha de Cuba é de apenas 7 para 1000 nascimentos.
Além dessa estatística desoladora, não houve calamidades internas que não se tenha abatido sobre nosso país. Enquanto isso, em revoltante contrapartida, mesmo depois de decorridos 2 séculos que nosso povo conquistou a soberania nacional, os defensores e descendentes dos colonos exploradores e capitalistas não cessaram de querer nos fazer pagar a audácia de termos querido constituir uma nação de homens e mulheres livres.
Nestes últimos decênios, nossa economia, nossa agricultura, nossos serviços públicos, nossos solos, têm sofrido o assalto das privatizações, das multinacionais e de planos de ajustamentos estruturais solicitados pelo FMI e pelo Banco Mundial.
Senhor Presidente, é certo que vós pudestes constatar, quando estivestes aqui em vossa visita oficial em maio último, as devastações causadas por tais políticas das quais os organizadores se encontram fora de nossas fronteiras devastadas, agravadas ainda, há dois meses, pela passagem sucessiva de 4 furacões.
Vós o sabeis. Nosso pobre povo como o povo brasileiro, pagou com sua carne e com seu sangue os decênios de regimes militares e de ditaduras que foram todas sustentadas, mesmo quando não lhe impuseram diretamente o governo dos poderosos. Estes chegaram até a pisotear a soberania da nação Haitiana, como foi o caso da primeira vez da ocupação humilhante de 1915 a 1934, organizada pelo governo dos Estados Unidos da América.
Nenhum povo da história não aceita sem reagir ao ver seu país ocupado; este foi o caso da primeira ocupação estrangeira, como está sendo hoje o caso da presença sobre o nosso solo dos regimentos da MINUSTAH. Estas tropas, sob o comando brasileiro, que em abril último, no momento em que centena de milhares de mulheres e de homens que não tinham mais nada para se comer, foram à rua para se manifestar, as tropas atiraram na multidão matando 6 manifestantes e fazendo centenas de feridos.
Estes regimentos da MINUSTAH que são responsáveis por intervenções as mais graves como em Vila Sol, com um saldo de dezenas de mortes em fevereiro de 2007. Reconhecidamente responsáveis por violações, incitação à prostituição de nossas jovens, etc.... poderiam se prevalecer de estar em nosso solo defendendo uma estabilização e uma paz? Mas Haiti não está em guerra com nenhum outro país. Quem tende a desestabilizar nosso país não são aqueles que lhe negam o direito à sua soberania nacional?
Senhor Presidente, o povo haitiano como todos os povos do Caribe, do continente e do mundo, deve ter o direito imprescindível de dispor de si mesmo, sem ingerência de nenhuma armada, de nenhum poderio, de nenhum governo estrangeiro.
Ele deve ter o direito de tomar a si mesmo as medidas de urgência para salvar seu país da miséria e da violência, para começar a reconstruí-lo. Ele não poderá fazê-lo senão com o restabelecimento da democracia, liberada de toda ocupação, de todo atentado à sua soberania.
O povo haitiano não tem necessidade de militares estrangeiros, não tem necessidade senão da ajuda fraterna de todos os povos irmãos e das organizações trabalhistas, populares e democráticas do Caribe e do continente americano.
Senhor Presidente, nós vos pedimos solenemente que retire as tropas brasileiras do Haiti. E se, como estamos convencidos, vós quereis verdadeiramente ajudar nosso povo buscar o caminho de sua democracia e de uma melhora da situação das massas haitianas, então substitua os 1200 soldados brasileiros por médicos, enfermeiros, bombeiros, técnicos e trabalhadores para reconstruir as estradas e todas as infra-estruturas destruídas pelos furacões.
Nós esperamos também que o Senhor Presidente proponha aos 40 outros países, que têm igualmente tropas na MINUSTAH façam o mesmo. Proponha que os 540 milhões de dólares US, que é o custo anual destes regimentos (cifra publicada no site da MINUSTAH) sejam dedicadas à reconstrução, à ajuda alimentar, à construção de escolas, de hospitais...
Nós abaixo assinados, organizações sindicais, políticas e populares haitianas, encaminhamos esta carta por intermédio de vosso embaixador, a quem nós vamos remetê-la.
Nós lhe pedimos que se faça o nosso intérprete. Pedimos também que vós, Senhor Presidente, aceiteis receber uma delegação de nossas organizações para que nós lhe expliquemos o sentimento e as exigências de nosso povo, que mais do que nunca quer afirmar sua soberania e num primeiro lugar solicita previamente a partida dos regimentos estrangeiros da MINUSTAH.
O povo haitiano, fortificado em suas tradições e nas lutas pela sua soberania, é um fervoroso partidário do estabelecimento das relações de igualdade e de cooperação entre as nações. As relações de submissão não fazem senão multiplicar os conflitos e provocar as guerras.
Pela presente carta, nós informamos que nos dias 12 e 13 de dezembro próximo, nós organizaremos no nosso país, em Porto-Príncipe, um encontro com militantes e cidadãos do continente para debatermos juntos as vias e os meios de recobrar nossa soberania, incompatível com a manutenção das tropas da MINUSTAH.
Aguardando vossa comunicação, receba, Senhor Presidente do Brasil, nossas respeitosas saudações e estejais certo de nosso profundo desejo de lutar até o fim pela soberania de nosso país.
Porto-Príncipe. 1º de novembro de 2008
Tradução do francês por Moema Selma D'Andrea
As organizações abaixo assinadas :
CATH : Centrale autonome des travailleurs haïtiens, Louis Fignolé St Cyr, Secrétaire Général
POS : Parti ouvrier socialiste haïtien, Marc Antoine Poinson, Secrétaire à l’organisation des départements
FESTREDH : Fédération syndicale de l’électricité d’Haïti, Dukens Raphaél, Porte parole
GIEL : Groupe d’Initiative des enseignants de lycées, Léonel Pierre, Secrétaire Général
ADFEMTRAH : Section des femmes de la CATH, Julie Génélus, Secrétaire Générale
GRAHLIB : Grand rassemblement pour une Haïti libre et démocratique, Ludy Lapointe Coordonateur Général
FOS : Fédération des ouvriers syndiqués, Raymond Dalvius, Responsable des relations publiques
Koreken : Coordination Résistance Contre les Ingérences, Jhon Wagner Edol, coordinateur général
UNAPFEH : Union Nationale pour la Protection des Femmes est des Enfants d’Haïti, Itiane DERIVAL, coordinatrice,
ACDIFED : Association Chrétienne des Femmes et des Enfants d’Haït, Sherly MICHEL,
FUNA : Femme Universitaire pour une Nouvelle Alternative, Yvonne PRINTEMPS, secrétaire générale,
FHVC : Femme Handicapée en Voie de Culminance, Kerlange PAULEMA, coordinatrice,
CHASS : Centre Haïtien de Service Social, Robinson DESIRE, secrétaire général adjoin,
GROSSOL : Groupe Solidarité, Ing. Poto Jean MARRAIS, secrétaire général,
ROFNA : Rassembement des Organisations de Femmes pour une Nouvelle Alternative, Nicole D MICHEL, coordnatrice,
FEMHA : Femme Haïtienne en Action, Gina DESIRE, coordinatrice,
AFVS : Organisation Femme Victime de Solino, Luthana AUGUSTE, coordinatrice,
JM : Jeune du Monde, Dukerline DORIVAL, coordinatrice,
RONA : Rassemblement des Organisations pour une Nouvelle Alternative, Ing. Georghy DESIRE, coordinateur général ,
COADMEDH : Coalition des Médecins Haïtiens, Dr Giles Labossière, coordinateur général,
GAPANA : Groupe d’appui pour l’Avancement et la Promotion de la production Nationale,Réginal Rebecca FRANCOIS,
MOFERPNH : Mouvement des Femmes de Rève pour une Nouvelle Haïti, Josy FAIDOR, coordinatrice
Nós somos responsáveis pelas organizações políticas e populares haitianas. Nosso povo, o povo haitiano, se libertou a 204 anos das cadeia da escravidão. “nos ousamos ser livres”, declarou Jean Jacques Dessalines, no dia 1º de janeiro de 1804, quando ele proclamou esta que foi a primeira República negra do mundo, sendo chamada, então, de Haiti.
Hoje, nosso país é o mais pobre do continente americano. A carência alimentar abrange, diariamente, 3,3 milhões de nossos cidadãos. Uma vítima para cada 3 habitantes. A expectativa de vida para quem aqui nasce é de apenas 51 anos; 60% da população tenta sobreviver a cada dia com menos de dois dólares. Em nosso país, a taxa de mortalidade infantil é de 80 crianças para 1000 que nascem; enquanto que na França a proporção é de 4 crianças entre mil nascidas e na nossa vizinha ilha de Cuba é de apenas 7 para 1000 nascimentos.
Além dessa estatística desoladora, não houve calamidades internas que não se tenha abatido sobre nosso país. Enquanto isso, em revoltante contrapartida, mesmo depois de decorridos 2 séculos que nosso povo conquistou a soberania nacional, os defensores e descendentes dos colonos exploradores e capitalistas não cessaram de querer nos fazer pagar a audácia de termos querido constituir uma nação de homens e mulheres livres.
Nestes últimos decênios, nossa economia, nossa agricultura, nossos serviços públicos, nossos solos, têm sofrido o assalto das privatizações, das multinacionais e de planos de ajustamentos estruturais solicitados pelo FMI e pelo Banco Mundial.
Senhor Presidente, é certo que vós pudestes constatar, quando estivestes aqui em vossa visita oficial em maio último, as devastações causadas por tais políticas das quais os organizadores se encontram fora de nossas fronteiras devastadas, agravadas ainda, há dois meses, pela passagem sucessiva de 4 furacões.
Vós o sabeis. Nosso pobre povo como o povo brasileiro, pagou com sua carne e com seu sangue os decênios de regimes militares e de ditaduras que foram todas sustentadas, mesmo quando não lhe impuseram diretamente o governo dos poderosos. Estes chegaram até a pisotear a soberania da nação Haitiana, como foi o caso da primeira vez da ocupação humilhante de 1915 a 1934, organizada pelo governo dos Estados Unidos da América.
Nenhum povo da história não aceita sem reagir ao ver seu país ocupado; este foi o caso da primeira ocupação estrangeira, como está sendo hoje o caso da presença sobre o nosso solo dos regimentos da MINUSTAH. Estas tropas, sob o comando brasileiro, que em abril último, no momento em que centena de milhares de mulheres e de homens que não tinham mais nada para se comer, foram à rua para se manifestar, as tropas atiraram na multidão matando 6 manifestantes e fazendo centenas de feridos.
Estes regimentos da MINUSTAH que são responsáveis por intervenções as mais graves como em Vila Sol, com um saldo de dezenas de mortes em fevereiro de 2007. Reconhecidamente responsáveis por violações, incitação à prostituição de nossas jovens, etc.... poderiam se prevalecer de estar em nosso solo defendendo uma estabilização e uma paz? Mas Haiti não está em guerra com nenhum outro país. Quem tende a desestabilizar nosso país não são aqueles que lhe negam o direito à sua soberania nacional?
Senhor Presidente, o povo haitiano como todos os povos do Caribe, do continente e do mundo, deve ter o direito imprescindível de dispor de si mesmo, sem ingerência de nenhuma armada, de nenhum poderio, de nenhum governo estrangeiro.
Ele deve ter o direito de tomar a si mesmo as medidas de urgência para salvar seu país da miséria e da violência, para começar a reconstruí-lo. Ele não poderá fazê-lo senão com o restabelecimento da democracia, liberada de toda ocupação, de todo atentado à sua soberania.
O povo haitiano não tem necessidade de militares estrangeiros, não tem necessidade senão da ajuda fraterna de todos os povos irmãos e das organizações trabalhistas, populares e democráticas do Caribe e do continente americano.
Senhor Presidente, nós vos pedimos solenemente que retire as tropas brasileiras do Haiti. E se, como estamos convencidos, vós quereis verdadeiramente ajudar nosso povo buscar o caminho de sua democracia e de uma melhora da situação das massas haitianas, então substitua os 1200 soldados brasileiros por médicos, enfermeiros, bombeiros, técnicos e trabalhadores para reconstruir as estradas e todas as infra-estruturas destruídas pelos furacões.
Nós esperamos também que o Senhor Presidente proponha aos 40 outros países, que têm igualmente tropas na MINUSTAH façam o mesmo. Proponha que os 540 milhões de dólares US, que é o custo anual destes regimentos (cifra publicada no site da MINUSTAH) sejam dedicadas à reconstrução, à ajuda alimentar, à construção de escolas, de hospitais...
Nós abaixo assinados, organizações sindicais, políticas e populares haitianas, encaminhamos esta carta por intermédio de vosso embaixador, a quem nós vamos remetê-la.
Nós lhe pedimos que se faça o nosso intérprete. Pedimos também que vós, Senhor Presidente, aceiteis receber uma delegação de nossas organizações para que nós lhe expliquemos o sentimento e as exigências de nosso povo, que mais do que nunca quer afirmar sua soberania e num primeiro lugar solicita previamente a partida dos regimentos estrangeiros da MINUSTAH.
O povo haitiano, fortificado em suas tradições e nas lutas pela sua soberania, é um fervoroso partidário do estabelecimento das relações de igualdade e de cooperação entre as nações. As relações de submissão não fazem senão multiplicar os conflitos e provocar as guerras.
Pela presente carta, nós informamos que nos dias 12 e 13 de dezembro próximo, nós organizaremos no nosso país, em Porto-Príncipe, um encontro com militantes e cidadãos do continente para debatermos juntos as vias e os meios de recobrar nossa soberania, incompatível com a manutenção das tropas da MINUSTAH.
Aguardando vossa comunicação, receba, Senhor Presidente do Brasil, nossas respeitosas saudações e estejais certo de nosso profundo desejo de lutar até o fim pela soberania de nosso país.
Porto-Príncipe. 1º de novembro de 2008
Tradução do francês por Moema Selma D'Andrea
As organizações abaixo assinadas :
CATH : Centrale autonome des travailleurs haïtiens, Louis Fignolé St Cyr, Secrétaire Général
POS : Parti ouvrier socialiste haïtien, Marc Antoine Poinson, Secrétaire à l’organisation des départements
FESTREDH : Fédération syndicale de l’électricité d’Haïti, Dukens Raphaél, Porte parole
GIEL : Groupe d’Initiative des enseignants de lycées, Léonel Pierre, Secrétaire Général
ADFEMTRAH : Section des femmes de la CATH, Julie Génélus, Secrétaire Générale
GRAHLIB : Grand rassemblement pour une Haïti libre et démocratique, Ludy Lapointe Coordonateur Général
FOS : Fédération des ouvriers syndiqués, Raymond Dalvius, Responsable des relations publiques
Koreken : Coordination Résistance Contre les Ingérences, Jhon Wagner Edol, coordinateur général
UNAPFEH : Union Nationale pour la Protection des Femmes est des Enfants d’Haïti, Itiane DERIVAL, coordinatrice,
ACDIFED : Association Chrétienne des Femmes et des Enfants d’Haït, Sherly MICHEL,
FUNA : Femme Universitaire pour une Nouvelle Alternative, Yvonne PRINTEMPS, secrétaire générale,
FHVC : Femme Handicapée en Voie de Culminance, Kerlange PAULEMA, coordinatrice,
CHASS : Centre Haïtien de Service Social, Robinson DESIRE, secrétaire général adjoin,
GROSSOL : Groupe Solidarité, Ing. Poto Jean MARRAIS, secrétaire général,
ROFNA : Rassembement des Organisations de Femmes pour une Nouvelle Alternative, Nicole D MICHEL, coordnatrice,
FEMHA : Femme Haïtienne en Action, Gina DESIRE, coordinatrice,
AFVS : Organisation Femme Victime de Solino, Luthana AUGUSTE, coordinatrice,
JM : Jeune du Monde, Dukerline DORIVAL, coordinatrice,
RONA : Rassemblement des Organisations pour une Nouvelle Alternative, Ing. Georghy DESIRE, coordinateur général ,
COADMEDH : Coalition des Médecins Haïtiens, Dr Giles Labossière, coordinateur général,
GAPANA : Groupe d’appui pour l’Avancement et la Promotion de la production Nationale,Réginal Rebecca FRANCOIS,
MOFERPNH : Mouvement des Femmes de Rève pour une Nouvelle Haïti, Josy FAIDOR, coordinatrice
Capitu sou Eu ou é Ela? Afinal, Quem é Capitu?
"Todo texto contém sempre a promessa murmurada de alguma descoberta que se oferece como recompensa. É em função dessa descoberta que se estabelecem os limites (sempre arbitrários) do que será o trabalho interpretativo."
Berta Waldman
No conto de Dalton Trevisan – “Capitu sou eu” – a primeira referência literária que nos ocorre é, sem dúvida, a célebre frase dita por Flaubert, perante o tribunal que o julgava por “elogio ao adultério”, configurado na personagem feminina de seu romance: "Madame Bovary c´est moi”. Pela recorrência matreiramente intertextual, o conto do escritor curitibano situa o leitor no clima do adultério feminino, através do mais famoso romance sobre o tema. Mas não pára por aí a referência: a intertextualidade contida no título nos remete a outro romance não menos comentado, cujos engenho e arte até hoje desafiam os críticos de Machado de Assis. Vamos então tentar desvendar os artifícios que levaram Dalton Trevisan a se servir não da temática do adultério em si, mas da singularidade da personagem Capitu, enigma feminino, cuja identidade controversa é engendrada pela imaginação retrospectiva do marido e pela fabulação do bruxo de Cosme Velho.
Resumidamente, o conto narra a relação erótica que se estabelece entre uma professora de literatura, mais velha mas não muito, e um jovem aluno tipicamente modernoso, andando de moto barulhenta, bermudão e botinas de couro, sempre atrasado às aulas e de rendimento abaixo do medíocre. Para desespero da professora, que “reconhece o tipo: contestador, rebelde sem causa, beligerante.”, ele defende gratuitamente, sem argumentos, a infidelidade de Capitu. O caso evolui para uma relação erótica sado-masoquista, até acabar com a completa degradação da personagem feminina, após ser abandonada pelo “selvagem da moto”.
O curioso, neste caso, é que Dom Casmurro, o romance e seus desdobramentos, instigam a imaginação fabular de Dalton Trevisan e sua veia paródica, dessacralizadora. Já no livro Dinorá, ”, datado de 1994, o conto “Capitu sem enigmas” vem elaborado de forma digressiva: uma voz em off , irônica e debochada, toma a defesa dos primeiros críticos que pugnaram pela infidelidade de Capitu, em especial Alfredo Pujol que em 1917 diz o seguinte: “[...] Dom Casmurro é um livro cruel. Bento Santiago, alma cândida e boa, submissa e confiante, feita para o sacrifício e a ternura, ama desde criança a sua deliciosa vizinha. [...] Capitu engana-o com seu melhor amigo, [...] A traição da mulher torna-o cético e quase mal” Ironiza a crítica atual que aponta os lances ambíguos reveladores do ciúme e da insegurança de Bentinho, levando-o à condenação de Capitu, em especial Silviano Santiago, Roberto Schwarz e John Gledson. Cita vários trechos de Dom Casmurro, escolhidos intencionalmente, em que Bentinho elabora as provas “circunstanciais” do deslize de Capitu, como por exemplo:
"Tudo fantasia de um ingênuo e ciumento? Quer mais, ó cara: a prova carnal do crime? A Bentinho, que era estéril, nasce-lhe um filho temporão – “nenhum outro, um só e único”. Ei-lo o tão esperado: “De Ezequiel (menino) olhamos para a fotografia... a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele...” Um retrato de corpo inteiro, é pouco? “Ezequiel (adulto) reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro, Escobar. Era o meu comborço; era o filho de seu pai."
Insinua lances duvidosos de D. Carolina, na cidade do Porto, ligando a esposa de Machado de Assis à infiel Virgília, à meio infiel Sofia e, para ele, à infiel Capitolina:
"Só uma peralta ignara (a nova crítica) da biografia (Carolina e seu passado amoroso no Porto) e temática do autor (ai Virgília, ai Capitolina, ai Sofia) para sugerir tal barbaridade."
De forma jocosa, ele parodia duplamente a linguagem retórica de Machado, no século XIX, e hoje em desuso, ao chamar a nova crítica de “peralta ignara”, ao mesmo tempo em que se serve da mesma ironia machadiana, quando este faz uso daquele vocabulário pedante e rebuscado.Com a ajuda de um narrador de primeira pessoa, ao mesmo tempo burlesco e malicioso, aparentemente descomprometido com a teia narrativa, ou seja com a ação motivadora do enunciado, o ato paródico se instala ao projetar duas identidades de Capitu: uma, a vítima da elite provinciana do século XIX e do machismo de Bento de Albuquerque Santiago, respaldada pela nova crítica; a outra, uma personagem que possui, com a traição, a identidade bem mais atraente (segundo ele) alinhada com as grandes heroínas burguesas de Flaubert e Tolstói, também do século XIX.
"Você pode julgar uma pessoa pela opinião sobre Capitu. Acha que sempre fiel? Desista, ó patusco: sem intuição literária. Entre o ciúme e a traição da infância, da inocência, do puro amor, ainda se fia que o bruxo do Cosme Velho escolhesse o efeito menor? Pó, qual o grandíssimo tema romanesco de então, as fabulosas Ema Bovary e Ana Karenina. [...] Inocentar Capitu é fazê-la uma pobre criatura. Privá-la de seu crime, assim a perfídia não fosse próprio das culpadas? Já sem mistério, sem fascínio, sem grandeza. Morreu Escobar não das ondas do Flamengo e sim dos olhos de cigana oblíquos e dissimulados. Por que os olhos de ressaca, me diga, senão para você neles se afogar? [...] Se a filha de Pádua não traiu, Machadinho se chamou José de Alencar.”
Nos trechos citados, o deboche do narrador se detém na escolha implícita do autor (ao manejar os cordéis da ficção) determinando a perfídia de Capitu, através da memória retrospectiva e sem lacunas de Bento Santiago. A paródia se afirma, inclusive, quando este narrador, dialogando com um emissor que não se manifesta enquanto textualidade, simula a voz autoritária de Bentinho, narrador unilateral, que também simula um diálogo com o leitor. Aprofundando o ato paródico, debocha do romantismo alencarino; advoga para Machado a filiação, sem mais nem menos, à corrente realista daquela época, desprezando conscientemente as armadilhas retóricas, a densidade psicológica e o chão social que se inscreve nos romances do escritor fluminense. Dalton Trevisan, ele mesmo um realista do conto contemporâneo, cujo olhar crítico e descritivo flagra as contradições do urbanismo provinciano de Curitiba, e que segundo Berta Waldman: “[..insere-se, historicamente, na linguagem desconfiada do realismo de um Flaubert, ou de um Machado de Assis]”
Ao fazer pouco caso das ambigüidades retóricas da escritura machadiana e ao se apropriar da personagem feminina de Dom Casmurro para seu deleite paródico, Trevisan retira o enigma de Capitu e do famoso romance que, segundo Roberto Schwarz,
"[...] tem algo de armadilha, , com lição crítica incisiva – isso se a cilada for percebida como tal. Desde o início há incongruências, passos obscuros, ênfases desconcertantes, que vão formando um enigma."
Diferentemente de “Capitu sem enigmas”, o conto “Capitu sou eu” tem como estratégia retórica um narrador onisciente habilmente camuflado numa máscara de distanciamento. As frases curtas, as construções elípticas, principalmente as omissões propositais dos verbos, o ritmo ágil, cinematográfico, tudo concorre para moldar esse narrador que, dos bastidores, faz a luz dos flash incidir sobre os personagens. São eles que levam a ação às últimas conseqüências. A relação ambígua da personagem machadiana é reelaborada em outra experiência, desta vez contemporânea, e aparentemente sem ambigüidade, uma vez que suas ações amorosas são amplamente descritas, fazendo jus às conquistas femininas dos anos sessenta do século XX para cá. A ambigüidade permanece na condição feminina atual, que se triparte entre exercer uma profissão, ser mãe de família (tem um filho que mora com ela) e ser uma mulher divorciada, ao mesmo tempo em que tem dentro de si o estopim erótico da fêmea. Tal como é definida a outra Capitu, ela é igualmente sedutora e vítima. Na sala de aula, abomina o comportamento do aluno:
“[...] o único que sustenta a infidelidade de Capitu. Confuso, na falta de argumentos supre-os com veemência e gesticulação arrebatada: infiel, a nossa heroína, pela perfídia fatal que mora em todo coração feminino. Insiste na coincidência dos nomes: Ca-ro-li-na, da mulher do autor (com os amores duvidosos na cidade do Porto), e o da personagem Ca-pi-to-li-na...
A traição da pobre criatura, para ele, é questão pessoal, não debate literário, ou questão psicológica. Capitu? Simples mulherzinha à-toa. “Mulherzinha, já pensou?” ela se repete, indignada. “Meu Deus, este sim, é o machista supremo. Um monstro moral à solta na minha classe” E por fim: “Ai da moça que se envolver com tal bruto sem coração.”
Mas, como o outro Bentinho que se narra descrevendo-se tímido e ingênuo em relação à sagacidade e coragem mental de Capitu, este exemplar do sexo masculino, versão século XX, é descrito pelo narrador como: “[..] na verdade, um tímido em pânico, denunciado no rubor da face, que a barba não esconde. E, aos olhos dela, o torna mais atraente, um cacho de cabelo negro na testa.” Como presença masculina na pele do aluno seduzido/sedutor, o narrador elege a voz feminina com destaque nos diálogos, em que a fala masculina, aparentemente lacunar, é assinalada por um sinal de interrogação, várias vezes reiterado na sucessão dos diálogos.
E como a outra Capitu, essa anônima professora conturba o aluno com um comportamento dual:
"Nas aulas, por sua vez, ela que o confunde: sadista e piedosa, arrogante e singela. Sentada no canto da mesa, cruza as longas pernas, um lampejo de coxa imaculada. E no tornozelo esquerdo, a correntinha trêmula – o signo do poder da domadora que, sem o chicotinho ou pistola, de cada aluno faz uma fera domesticada. Elegante, blusa com decote generoso, os seios redondos em flor – ou duas taças plenas de vinho branco?"
À medida em que a relação amorosa evolui, o papel de dominadora, inclusive intelectual, vai se invertendo e ela fica à mercê dos seus próprios desejos e do erotismo da situação: “ Escrava, sim, rastejadora e suplicante ou professora despótica ainda na cama:” E à medida que caem suas defesas morais, sua auto-estima também se desfaz:
"Pela manhã, depois que ele se vai, chora de vergonha. “Como eu fui capaz... Não só concordei. Quem acabou tomando a iniciativa? Só eu. Euzinha. Não jurei que nunca, nunca eu faria... Meu Deus, como beijar agora meu filho? Ó Jesus, sou mulherzinha à-toa? Eu culpada. Eu... Capitu?"
Ao fim da relação, configurada também pela rejeição e conseqüente abandono, o narrador constata algo que também poderia ser dito a Capitu de Dom Casmuro: “Sem perdão ela foi condenada, sequer o benefício da dúvida.” E logo mais adiante reafirma a intertextualidade: “Ai dela, mesma situação da outra, enjeitada lá na Suíça pelo bem-amado, desgracido machista.”.Meio na troça, meio a sério, ele referenda a posição da nova crítica que aponta a posição de classe e a cultura patriarcal (entre outras coisas) como a causa reveladora do machismo de Bento Santiago.
Afinal, sem mais defesas, a professora capitula naquilo que seria essencial à sua dignidade – a coerência profissional - e confere ao mau aluno os louros literários: “[...] apesar da péssima prova, graduado por média, com distinção em Literatura.”. Resta ainda a essa Capitu moderna a derradeira das humilhações: “E, última tentativa de reconquistar o seu amor, publica na Revista de Letras um artigo em que sustenta a traição de Capitu.”
É evidente que o conto dialoga com a Capitu do Dom Casmurro; um diálogo áspero, paródico, em que o modelo original é distorcido, como uma imagem vista nesses espelhos dos parques de diversão. Deformada de maneira grotesca, a identidade de Capitu é fragmentada em outras identidades ficcionais, adúlteras e/ou sedutoras, forjadas pela tradição da literatura clássica na qual se insere o escritor fluminense.
O que está em jogo, nos parece, é a condição feminina e o desgaste das relações amorosas e sociais numa sociedade em que a mulher é duplamente reificada: no geral, pela estrutura machista que a mantém e subjuga; no particular pela relação a dois. O que mudou do século XIX para cá? Na ficção, fiel ao modelo machadiano, ambas Capitus são punidas: uma com o desterro de luxo na Suíça; a outra transformada numa “mulherzinha à-toa” na boca do aluno machista, e tal como a Capitu de Mata-cavalos que estava “dentro da outra, como a fruta dentro da casca”, segundo a definição de exemplar determinismo de Bento de Albuquerque Santiago.
Como diz, Berta Waldman a respeito da temática de Dalton Trevisan: “Postos frente a frente (cena) homem e mulher, em situação de peleja amorosa, reiteram sempre a relação minada.” Em relação ao seu modus operandi ficcional, a apropriação acima demonstrada é reveladora de que Trevisan está consciente de que toda representação oculta, por trás da máscara narrativa, a soberania das escolhas do autor, ou como diz Maria Lúcia Dal Farra: "Manejador de disfarces, o autor camuflado e encoberto pela ficção, não consegue fazer submergir somente uma característica – sem dúvida a mais expressiva – a apreciação. Para além da obra, na própria escolha do título, ele se trai, e mesmo no interior dela, a complexa eleição dos signos, a preferência por determinado narrador, a opção favorável por esta personagem [...] denunciam sua marca e sua avaliação. "
A Capitu de Machado será sempre um enigma na nossa literatura: decifra-me ou permaneço desafiando-te. E o autor sempre poderá dizer: Capitu sou eu, sedutora e indefinida. Já a Capitu de Trevisan é explicitamente vítima do “Bentinho”, decalcado no machista do século XX, o que confirma a paródia da condenação de “Capitu sem enigmas “ e o diálogo intertextual do autor curitibano com o autor de Dom Casmurro.
Então podemos dizer com Machado de Assis e Dalton Trevisan, e à maneira de Flaubert: “Capitu sou eu”.
Berta Waldman
No conto de Dalton Trevisan – “Capitu sou eu” – a primeira referência literária que nos ocorre é, sem dúvida, a célebre frase dita por Flaubert, perante o tribunal que o julgava por “elogio ao adultério”, configurado na personagem feminina de seu romance: "Madame Bovary c´est moi”. Pela recorrência matreiramente intertextual, o conto do escritor curitibano situa o leitor no clima do adultério feminino, através do mais famoso romance sobre o tema. Mas não pára por aí a referência: a intertextualidade contida no título nos remete a outro romance não menos comentado, cujos engenho e arte até hoje desafiam os críticos de Machado de Assis. Vamos então tentar desvendar os artifícios que levaram Dalton Trevisan a se servir não da temática do adultério em si, mas da singularidade da personagem Capitu, enigma feminino, cuja identidade controversa é engendrada pela imaginação retrospectiva do marido e pela fabulação do bruxo de Cosme Velho.
Resumidamente, o conto narra a relação erótica que se estabelece entre uma professora de literatura, mais velha mas não muito, e um jovem aluno tipicamente modernoso, andando de moto barulhenta, bermudão e botinas de couro, sempre atrasado às aulas e de rendimento abaixo do medíocre. Para desespero da professora, que “reconhece o tipo: contestador, rebelde sem causa, beligerante.”, ele defende gratuitamente, sem argumentos, a infidelidade de Capitu. O caso evolui para uma relação erótica sado-masoquista, até acabar com a completa degradação da personagem feminina, após ser abandonada pelo “selvagem da moto”.
O curioso, neste caso, é que Dom Casmurro, o romance e seus desdobramentos, instigam a imaginação fabular de Dalton Trevisan e sua veia paródica, dessacralizadora. Já no livro Dinorá, ”, datado de 1994, o conto “Capitu sem enigmas” vem elaborado de forma digressiva: uma voz em off , irônica e debochada, toma a defesa dos primeiros críticos que pugnaram pela infidelidade de Capitu, em especial Alfredo Pujol que em 1917 diz o seguinte: “[...] Dom Casmurro é um livro cruel. Bento Santiago, alma cândida e boa, submissa e confiante, feita para o sacrifício e a ternura, ama desde criança a sua deliciosa vizinha. [...] Capitu engana-o com seu melhor amigo, [...] A traição da mulher torna-o cético e quase mal” Ironiza a crítica atual que aponta os lances ambíguos reveladores do ciúme e da insegurança de Bentinho, levando-o à condenação de Capitu, em especial Silviano Santiago, Roberto Schwarz e John Gledson. Cita vários trechos de Dom Casmurro, escolhidos intencionalmente, em que Bentinho elabora as provas “circunstanciais” do deslize de Capitu, como por exemplo:
"Tudo fantasia de um ingênuo e ciumento? Quer mais, ó cara: a prova carnal do crime? A Bentinho, que era estéril, nasce-lhe um filho temporão – “nenhum outro, um só e único”. Ei-lo o tão esperado: “De Ezequiel (menino) olhamos para a fotografia... a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele...” Um retrato de corpo inteiro, é pouco? “Ezequiel (adulto) reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro, Escobar. Era o meu comborço; era o filho de seu pai."
Insinua lances duvidosos de D. Carolina, na cidade do Porto, ligando a esposa de Machado de Assis à infiel Virgília, à meio infiel Sofia e, para ele, à infiel Capitolina:
"Só uma peralta ignara (a nova crítica) da biografia (Carolina e seu passado amoroso no Porto) e temática do autor (ai Virgília, ai Capitolina, ai Sofia) para sugerir tal barbaridade."
De forma jocosa, ele parodia duplamente a linguagem retórica de Machado, no século XIX, e hoje em desuso, ao chamar a nova crítica de “peralta ignara”, ao mesmo tempo em que se serve da mesma ironia machadiana, quando este faz uso daquele vocabulário pedante e rebuscado.Com a ajuda de um narrador de primeira pessoa, ao mesmo tempo burlesco e malicioso, aparentemente descomprometido com a teia narrativa, ou seja com a ação motivadora do enunciado, o ato paródico se instala ao projetar duas identidades de Capitu: uma, a vítima da elite provinciana do século XIX e do machismo de Bento de Albuquerque Santiago, respaldada pela nova crítica; a outra, uma personagem que possui, com a traição, a identidade bem mais atraente (segundo ele) alinhada com as grandes heroínas burguesas de Flaubert e Tolstói, também do século XIX.
"Você pode julgar uma pessoa pela opinião sobre Capitu. Acha que sempre fiel? Desista, ó patusco: sem intuição literária. Entre o ciúme e a traição da infância, da inocência, do puro amor, ainda se fia que o bruxo do Cosme Velho escolhesse o efeito menor? Pó, qual o grandíssimo tema romanesco de então, as fabulosas Ema Bovary e Ana Karenina. [...] Inocentar Capitu é fazê-la uma pobre criatura. Privá-la de seu crime, assim a perfídia não fosse próprio das culpadas? Já sem mistério, sem fascínio, sem grandeza. Morreu Escobar não das ondas do Flamengo e sim dos olhos de cigana oblíquos e dissimulados. Por que os olhos de ressaca, me diga, senão para você neles se afogar? [...] Se a filha de Pádua não traiu, Machadinho se chamou José de Alencar.”
Nos trechos citados, o deboche do narrador se detém na escolha implícita do autor (ao manejar os cordéis da ficção) determinando a perfídia de Capitu, através da memória retrospectiva e sem lacunas de Bento Santiago. A paródia se afirma, inclusive, quando este narrador, dialogando com um emissor que não se manifesta enquanto textualidade, simula a voz autoritária de Bentinho, narrador unilateral, que também simula um diálogo com o leitor. Aprofundando o ato paródico, debocha do romantismo alencarino; advoga para Machado a filiação, sem mais nem menos, à corrente realista daquela época, desprezando conscientemente as armadilhas retóricas, a densidade psicológica e o chão social que se inscreve nos romances do escritor fluminense. Dalton Trevisan, ele mesmo um realista do conto contemporâneo, cujo olhar crítico e descritivo flagra as contradições do urbanismo provinciano de Curitiba, e que segundo Berta Waldman: “[..insere-se, historicamente, na linguagem desconfiada do realismo de um Flaubert, ou de um Machado de Assis]”
Ao fazer pouco caso das ambigüidades retóricas da escritura machadiana e ao se apropriar da personagem feminina de Dom Casmurro para seu deleite paródico, Trevisan retira o enigma de Capitu e do famoso romance que, segundo Roberto Schwarz,
"[...] tem algo de armadilha, , com lição crítica incisiva – isso se a cilada for percebida como tal. Desde o início há incongruências, passos obscuros, ênfases desconcertantes, que vão formando um enigma."
Diferentemente de “Capitu sem enigmas”, o conto “Capitu sou eu” tem como estratégia retórica um narrador onisciente habilmente camuflado numa máscara de distanciamento. As frases curtas, as construções elípticas, principalmente as omissões propositais dos verbos, o ritmo ágil, cinematográfico, tudo concorre para moldar esse narrador que, dos bastidores, faz a luz dos flash incidir sobre os personagens. São eles que levam a ação às últimas conseqüências. A relação ambígua da personagem machadiana é reelaborada em outra experiência, desta vez contemporânea, e aparentemente sem ambigüidade, uma vez que suas ações amorosas são amplamente descritas, fazendo jus às conquistas femininas dos anos sessenta do século XX para cá. A ambigüidade permanece na condição feminina atual, que se triparte entre exercer uma profissão, ser mãe de família (tem um filho que mora com ela) e ser uma mulher divorciada, ao mesmo tempo em que tem dentro de si o estopim erótico da fêmea. Tal como é definida a outra Capitu, ela é igualmente sedutora e vítima. Na sala de aula, abomina o comportamento do aluno:
“[...] o único que sustenta a infidelidade de Capitu. Confuso, na falta de argumentos supre-os com veemência e gesticulação arrebatada: infiel, a nossa heroína, pela perfídia fatal que mora em todo coração feminino. Insiste na coincidência dos nomes: Ca-ro-li-na, da mulher do autor (com os amores duvidosos na cidade do Porto), e o da personagem Ca-pi-to-li-na...
A traição da pobre criatura, para ele, é questão pessoal, não debate literário, ou questão psicológica. Capitu? Simples mulherzinha à-toa. “Mulherzinha, já pensou?” ela se repete, indignada. “Meu Deus, este sim, é o machista supremo. Um monstro moral à solta na minha classe” E por fim: “Ai da moça que se envolver com tal bruto sem coração.”
Mas, como o outro Bentinho que se narra descrevendo-se tímido e ingênuo em relação à sagacidade e coragem mental de Capitu, este exemplar do sexo masculino, versão século XX, é descrito pelo narrador como: “[..] na verdade, um tímido em pânico, denunciado no rubor da face, que a barba não esconde. E, aos olhos dela, o torna mais atraente, um cacho de cabelo negro na testa.” Como presença masculina na pele do aluno seduzido/sedutor, o narrador elege a voz feminina com destaque nos diálogos, em que a fala masculina, aparentemente lacunar, é assinalada por um sinal de interrogação, várias vezes reiterado na sucessão dos diálogos.
E como a outra Capitu, essa anônima professora conturba o aluno com um comportamento dual:
"Nas aulas, por sua vez, ela que o confunde: sadista e piedosa, arrogante e singela. Sentada no canto da mesa, cruza as longas pernas, um lampejo de coxa imaculada. E no tornozelo esquerdo, a correntinha trêmula – o signo do poder da domadora que, sem o chicotinho ou pistola, de cada aluno faz uma fera domesticada. Elegante, blusa com decote generoso, os seios redondos em flor – ou duas taças plenas de vinho branco?"
À medida em que a relação amorosa evolui, o papel de dominadora, inclusive intelectual, vai se invertendo e ela fica à mercê dos seus próprios desejos e do erotismo da situação: “ Escrava, sim, rastejadora e suplicante ou professora despótica ainda na cama:” E à medida que caem suas defesas morais, sua auto-estima também se desfaz:
"Pela manhã, depois que ele se vai, chora de vergonha. “Como eu fui capaz... Não só concordei. Quem acabou tomando a iniciativa? Só eu. Euzinha. Não jurei que nunca, nunca eu faria... Meu Deus, como beijar agora meu filho? Ó Jesus, sou mulherzinha à-toa? Eu culpada. Eu... Capitu?"
Ao fim da relação, configurada também pela rejeição e conseqüente abandono, o narrador constata algo que também poderia ser dito a Capitu de Dom Casmuro: “Sem perdão ela foi condenada, sequer o benefício da dúvida.” E logo mais adiante reafirma a intertextualidade: “Ai dela, mesma situação da outra, enjeitada lá na Suíça pelo bem-amado, desgracido machista.”.Meio na troça, meio a sério, ele referenda a posição da nova crítica que aponta a posição de classe e a cultura patriarcal (entre outras coisas) como a causa reveladora do machismo de Bento Santiago.
Afinal, sem mais defesas, a professora capitula naquilo que seria essencial à sua dignidade – a coerência profissional - e confere ao mau aluno os louros literários: “[...] apesar da péssima prova, graduado por média, com distinção em Literatura.”. Resta ainda a essa Capitu moderna a derradeira das humilhações: “E, última tentativa de reconquistar o seu amor, publica na Revista de Letras um artigo em que sustenta a traição de Capitu.”
É evidente que o conto dialoga com a Capitu do Dom Casmurro; um diálogo áspero, paródico, em que o modelo original é distorcido, como uma imagem vista nesses espelhos dos parques de diversão. Deformada de maneira grotesca, a identidade de Capitu é fragmentada em outras identidades ficcionais, adúlteras e/ou sedutoras, forjadas pela tradição da literatura clássica na qual se insere o escritor fluminense.
O que está em jogo, nos parece, é a condição feminina e o desgaste das relações amorosas e sociais numa sociedade em que a mulher é duplamente reificada: no geral, pela estrutura machista que a mantém e subjuga; no particular pela relação a dois. O que mudou do século XIX para cá? Na ficção, fiel ao modelo machadiano, ambas Capitus são punidas: uma com o desterro de luxo na Suíça; a outra transformada numa “mulherzinha à-toa” na boca do aluno machista, e tal como a Capitu de Mata-cavalos que estava “dentro da outra, como a fruta dentro da casca”, segundo a definição de exemplar determinismo de Bento de Albuquerque Santiago.
Como diz, Berta Waldman a respeito da temática de Dalton Trevisan: “Postos frente a frente (cena) homem e mulher, em situação de peleja amorosa, reiteram sempre a relação minada.” Em relação ao seu modus operandi ficcional, a apropriação acima demonstrada é reveladora de que Trevisan está consciente de que toda representação oculta, por trás da máscara narrativa, a soberania das escolhas do autor, ou como diz Maria Lúcia Dal Farra: "Manejador de disfarces, o autor camuflado e encoberto pela ficção, não consegue fazer submergir somente uma característica – sem dúvida a mais expressiva – a apreciação. Para além da obra, na própria escolha do título, ele se trai, e mesmo no interior dela, a complexa eleição dos signos, a preferência por determinado narrador, a opção favorável por esta personagem [...] denunciam sua marca e sua avaliação. "
A Capitu de Machado será sempre um enigma na nossa literatura: decifra-me ou permaneço desafiando-te. E o autor sempre poderá dizer: Capitu sou eu, sedutora e indefinida. Já a Capitu de Trevisan é explicitamente vítima do “Bentinho”, decalcado no machista do século XX, o que confirma a paródia da condenação de “Capitu sem enigmas “ e o diálogo intertextual do autor curitibano com o autor de Dom Casmurro.
Então podemos dizer com Machado de Assis e Dalton Trevisan, e à maneira de Flaubert: “Capitu sou eu”.
Casablanca, Clichês? - Tradução
Umberto Eco, Casablanca, or the clichés are having a ball - tradução de Moema Selma D'Andrea.
Quando pessoas de seus cinqüenta anos sentam defronte a uma televisão para assistirem a uma reapresentação de Casa Blanca, isto é ordinariamente um tópico nostálgico. Contudo, quando o filme foi mostrado a universitários americanos, rapazes e moças saudaram cada cena e cada diálogo clicherizado (“Reunir os suspeitos usuais”, “Foi um bombardeio ou meu coração disparando?” – ou até mesmo quando Bogey fala “criança”) com aplausos comumente destinados aos espetáculos de futebol. Eu tenho visto, inclusive, uma jovem audiência italiana, em reapresentações no cinema, reagir da mesma forma. Qual é, por conseguinte, a fascinação de Casa Blanca?
A questão tem lá sua legitimidade, porque, falando esteticamente, (ou por um exato senso crítico) Casa Blanca é na verdade um filme medíocre. È uma tira de quadrinhos, uma mixórdia, com uma baixa credibilidade psicológica e com uma pequena seqüência de efeitos dramáticos. E nós sabemos a razão disto: o filme foi sendo filmado ao longo de sua produção, e até o último momento o diretor e o roteirista não sabiam se Ilse abandonaria Victor ou Rick. Portanto, foram aqueles momentos de inspirada direção que provocaram a arrancada de aplausos pela inesperada ousadia, de fato representando decisões tomadas no auge do desespero. Por conseguinte, o que é responsável pelo sucesso desta cadeia de peripécias, ou atribulações, em um filme que é presentemente bem avaliado, visto por uma segunda, terceira e quarta geração, arrancando aplausos reservados para ária de ópera que gostamos de ouvir repetidas vezes, ou o entusiasmo que nos acomete por uma excitante descoberta? Existe mesmo um elenco formidável atores. Mas isto não é tudo. Estão presentes os ingredientes dos amores românticos – ele amargo, ela terna – mas em ambos isto é visto como um favorecimento. E Casa Blanca não é Stagecoach, outro filme periodicamente revisitado. E o que mais? Tentaram ler Casa Blanca como T.S. Eliot releu Hamlet. Atribui-se este encantamento não a um bem sucedido trabalho (atualmente considera-se que Hamlet é uma das obras menos afortunadas de Shakespeare) porém alguma coisa se lhes opõe: Hamlet foi o resultado de uma mal sucedida fusão entre alguns prematuros Hamlets, os quais teve a vingança como tema (a loucura como estratégia) e mais um cujo objetivo foi o auge da crise, configurada pelo pecado da mãe, tendo como conseqüência a discrepância entre a excitação nervosa de Hamlet e a incerteza e improbabilidade do crime de Gertrude. Crítica e público acham Hamlet bonito porque é interessante, e o julgam interessante porque é bonito.
Numa menor escala, a mesma coisa aconteceu em Casablanca. Forçados a improvisar um enredo, os autores misturaram um pouco de tudo e, nessa mistura, eles criaram um repertório de confiável legitimidade. Quando a escolha desta qualidade vê-se limitada, o resultado é um filme banal, um produto massificado, ou simplesmente kitsch. Além do mais, quando esta mistura é usada exagerada e indiscriminadamente, o resultado é uma arquitetura semelhante à Igreja da Sagrada Família de Gaudi, em Barcelona. Produz uma sensação de vertigem, um golpe de brilhantismo.
Tudo isto não nos permite esquecer como o filme foi feito e como nos foi apresentado. Ele se abre num lugar essencialmente mágico – Marrocos, o Exótico - e começa com uma sugestão de música árabe que se dissolve na Marselhesa.
Desta forma, ingressamos no Rick´s Place ouvindo Gershwin. África, França, América. Imediatamente, um entrelaçamento de arquétipos ancestrais nos aproxima do clima cinematográfico. São estas situações que têm presidido estórias incessantemente através dos tempos. Usualmente, para fazer um bom filme é suficiente apenas um único uso de situações arquetípicas. Um amor infeliz, por exemplo, ou um desenlace amoroso. Mas Casablanca não se satisfez com isto: ele usou-as todas. A cidade é a passagem para a Terra Prometida (ou, se se preferir, a passagem Noroeste). Tanto é assim que a passagem se constitui a pedra de toque, o único caminho (“o caminho e o caminho e o caminho” fala em off uma voz no início.) A passagem para a sala de espera da Terra Prometida requer uma Chave Mágica, o passaporte. É em torno da conquista desta chave que as paixões se desencadeiam. O dinheiro (que surge na forma de variados ícones, usualmente como um Jogo Fatal, a roleta) poderia dar a impressão de ser o meio para obter a Chave. Mas finalmente nós descobrimos que esta chave pode ser obtida somente através de uma Dádiva – uma doação do passaporte; além disso, a doação acarreta em Rick o Desejo de seu próprio sacrifício. Por sua vez, é também a história de uma ciranda dos Desejos, nos quais só dois deles serão contemplados: aquele de Victor Laszlo, o mais genuíno dos heróis e o outro do casal búlgaro. Em conseqüência, todos aqueles cujas paixões são impuras fracassam. Por este caminho, nós temos um outro arquétipo: o triunfo da Pureza. O impuro não alcança a Terra Prometida, nós os perdemos de vista antes disso. Mas eles alcançam a pureza pelo sacrifício – e este o leva à Redenção. Rick resgata não somente a si próprio mas também o capitão da polícia francesa. Nós percebemos, implicitamente, a existência de duas Terras Prometidas: uma a América (para muitos através de uma meta artificial), e a outra é a Resistência – a Guerra Santa. Aquela para onde Victor parte e aquela para onde Rick e o Capitão francês vão aliar-se a de Gaulle. E se o recorrente símbolo do aeroplano surge freqüentemente no vôo para a América, a Cruz de Lorena aparece apenas uma vez antecipando o outro gesto simbólico do Capitão, no fim quando ele arremessa à distancia a garrafa de água de Vichy enquanto o avião está partindo. Uma outra transmissão do mito percorre todo o filme: o sacrifício de Ilse em Paris, quando ela abandona o homem amado, após o retorno do herói ferido. A búlgara sacrifica a lua de mel quando ela própria cede sua felicidade em favor de seu marido. Da mesma forma, Victor se sacrifica quando se prepara para deixar Ilse partir com Rick, contanto que ela fosse salva.
Nesta orgia de arquétipos (acompanhada pelo arquétipo do Servo Fiel, tema da relação de Bogey com o pianista negro Dooley Wilson) está inserido o tema do Amor Infeliz: infeliz para Rick que ama Ilse e não pode tê-la; infeliz para Ilse que ama Rick e não pode partir com ele; enquanto Victor é infeliz porque compreende, na realidade, não possuir o amor de Ilse. A reciprocidade de amores infelizes produz voltas e reviravoltas: no início, Rick é infeliz porque não compreende o motivo de Ilse tê-lo deixado; enquanto Victor é infeliz porque não compreende o motivo da atração de Ilse por Rick; finalmente Ilse é infeliz porque não entende o motivo de Rick tê-la deixado partir com seu marido.
Estes três amores infelizes (ou Impossíveis) tomam a forma de um triângulo. Além do mais, no arquétipo do triângulo sentimental há um Marido Traído e um Amante Vitorioso. Aqui os dois homens sofrem a perda, mas nesta derrota (e pairando acima dela) um elemento adicional contempla a trama; no entanto, tal a maneira sutil como se apresenta, só dificilmente nós podemos perceber. Neste elemento, muito subliminarmente, uma sugestão de amor viril ou Socrático paira no ar. Rick admira Victor; Victor é ambiguamente atraído por Rick e isto parece algo quase visível, como se cada qual dos dois jogassem o duelo sacrificial para satisfazer o outro. Em todo caso, como nas Confissões de Rousseau, a mulher se coloca como um elo intermediário entre os dois. Ela própria é destituída de valor positivo; apenas os dois homens o possuem.
Em oposição a este pano de fundo carregado de ambigüidades, ambos os personagens são figuras estratificadas, posicionadas para o bem ou para o mal. Victor joga um duplo papel como um instrumento de ambigüidade na história deste amor, e como um agente iluminado na intriga política – ele é a Beleza em oposição à Besta Nazista. O tema da Civilização versus Barbárie envolveu-se com outros, e em direção a um Retorno Odisseico somou-se à ousadia de uma Ilíada explicitamente bélica.
Circundando esta dança de mitos eternos, nós percebemos os mitos históricos, ou mais precisamente os mitos do cinema devidamente requentados. Bogart, ele próprio, personifica um pouco três deles: o Aventureiro Ambíguo, composto de cinismo e generosidade, o Amante Ascético, e ao mesmo tempo é um Alcoólatra Redimido (ele torna-se alcoólatra para ser, subitamente redimido, ao passo que já era um ascético nato). Ingrid Bergman é uma Enigmática Mulher, ou Femme Fatale. Em razão disto, surgem as canções míticas:They´re Playing Our Song; The Last Day in Paris; América, África, Lisbon as a Free Pot; e a Border Station, ou Last Outpost on the Edge of the Desert.
Há ainda a Legião Estrangeira (cada personagem possui um diferente nacionalidade e uma diferente história para contar) e finalmente há o Grande Hotel (pessoas indo e vindo). Rick´s Place abriga um círculo mágico onde tudo pode acontecer (e acontece): amor, morte, perseguição, espionagem, lances de sorte, seduções, música, patriotismo (A origem teatral do enredo, e sua pobreza de meios, leva a uma admirável condensação de eventos em um único cenário). Este lugar pode ser Hong Kong, Macao, l´Enfer du Jeu, uma antecipação de Lisboa igual a Showboat.
No entanto, precisamente porque existem tantos arquétipos, precisamente porque Casa Blanca cita inumeráveis filmes, e cada ator repete um lance representado em outra ocasião, a ressonância da intertextualidade seduz o telespectador. Casa Blanca traz com isto, semelhante a um rastro de perfume, outras situações as quais levam o telespectador a se entregar completamente e de boa vontade, acolhendo-as, sem se dar conta de outros filmes que só apareceriam mais tarde, tais como To Have and Have not, quando Bogart representa de fato o herói de Hemingway, enquanto aqui em Casa Blanca ele já carrega uma conotação hemingwaynesca pelo simples fato de Rick, da maneira como nos foi informado, lutou na Espanha (e igual a Malraux ajudou a Revolução Chinesa). Peter Lorre traz consigo uma reminiscência de Fritz Lang, Conrad Veidt envolve seu oficial germânico num pálido aroma do The Cabinet of Dr. Caligari – ele não é um implacável executor, mas um noturno e diabólico César.
Por tudo isto Casa Blanca não é um único filme. Ele é muitos filmes, uma antologia. Provavelmente, e de uma forma acidental, ele si fez a si próprio, contra a intenção de seus autores e atores, que tiveram, por conseguinte, uma pequena parcela sobre seu controle. Esta é a razão de ele ir na contramão das teorias estéticas e das teorias cinematográficas. Para tanto, ele se revela com um poder narrativo quase telúrico, ou seja, em seu estado espontâneo sem que a Arte intervenha ou discipline. Por isso nós podemos aceitá-lo quando os personagens mudam de humor, moral e psicologicamente, de um momento para o outro; quando conspiradores tossem para interromper uma conversa se um espião se aproxima; quando prostitutas choram ao som de La Marseillaise. Quando todos os arquétipos explodem despudoradamente, nós alcançamos profundezas homéricas. Dois clihês nos fazem rir. Uma centena deles nos comove. Por esta razão, nós percebemos vagamente que eles dialogam entre si, celebrando um colóquio. Assim como no auge do sofrimento pode-se encontrar um prazer sensual e assim como o auge da perversão toca de perto a energia mística, também o auge da banalidade permite-nos capturar um vislumbre do sublime. Algo agiu no lugar do diretor. Se não foi nada disso, então é um fenômeno digno de admiração.
Quando pessoas de seus cinqüenta anos sentam defronte a uma televisão para assistirem a uma reapresentação de Casa Blanca, isto é ordinariamente um tópico nostálgico. Contudo, quando o filme foi mostrado a universitários americanos, rapazes e moças saudaram cada cena e cada diálogo clicherizado (“Reunir os suspeitos usuais”, “Foi um bombardeio ou meu coração disparando?” – ou até mesmo quando Bogey fala “criança”) com aplausos comumente destinados aos espetáculos de futebol. Eu tenho visto, inclusive, uma jovem audiência italiana, em reapresentações no cinema, reagir da mesma forma. Qual é, por conseguinte, a fascinação de Casa Blanca?
A questão tem lá sua legitimidade, porque, falando esteticamente, (ou por um exato senso crítico) Casa Blanca é na verdade um filme medíocre. È uma tira de quadrinhos, uma mixórdia, com uma baixa credibilidade psicológica e com uma pequena seqüência de efeitos dramáticos. E nós sabemos a razão disto: o filme foi sendo filmado ao longo de sua produção, e até o último momento o diretor e o roteirista não sabiam se Ilse abandonaria Victor ou Rick. Portanto, foram aqueles momentos de inspirada direção que provocaram a arrancada de aplausos pela inesperada ousadia, de fato representando decisões tomadas no auge do desespero. Por conseguinte, o que é responsável pelo sucesso desta cadeia de peripécias, ou atribulações, em um filme que é presentemente bem avaliado, visto por uma segunda, terceira e quarta geração, arrancando aplausos reservados para ária de ópera que gostamos de ouvir repetidas vezes, ou o entusiasmo que nos acomete por uma excitante descoberta? Existe mesmo um elenco formidável atores. Mas isto não é tudo. Estão presentes os ingredientes dos amores românticos – ele amargo, ela terna – mas em ambos isto é visto como um favorecimento. E Casa Blanca não é Stagecoach, outro filme periodicamente revisitado. E o que mais? Tentaram ler Casa Blanca como T.S. Eliot releu Hamlet. Atribui-se este encantamento não a um bem sucedido trabalho (atualmente considera-se que Hamlet é uma das obras menos afortunadas de Shakespeare) porém alguma coisa se lhes opõe: Hamlet foi o resultado de uma mal sucedida fusão entre alguns prematuros Hamlets, os quais teve a vingança como tema (a loucura como estratégia) e mais um cujo objetivo foi o auge da crise, configurada pelo pecado da mãe, tendo como conseqüência a discrepância entre a excitação nervosa de Hamlet e a incerteza e improbabilidade do crime de Gertrude. Crítica e público acham Hamlet bonito porque é interessante, e o julgam interessante porque é bonito.
Numa menor escala, a mesma coisa aconteceu em Casablanca. Forçados a improvisar um enredo, os autores misturaram um pouco de tudo e, nessa mistura, eles criaram um repertório de confiável legitimidade. Quando a escolha desta qualidade vê-se limitada, o resultado é um filme banal, um produto massificado, ou simplesmente kitsch. Além do mais, quando esta mistura é usada exagerada e indiscriminadamente, o resultado é uma arquitetura semelhante à Igreja da Sagrada Família de Gaudi, em Barcelona. Produz uma sensação de vertigem, um golpe de brilhantismo.
Tudo isto não nos permite esquecer como o filme foi feito e como nos foi apresentado. Ele se abre num lugar essencialmente mágico – Marrocos, o Exótico - e começa com uma sugestão de música árabe que se dissolve na Marselhesa.
Desta forma, ingressamos no Rick´s Place ouvindo Gershwin. África, França, América. Imediatamente, um entrelaçamento de arquétipos ancestrais nos aproxima do clima cinematográfico. São estas situações que têm presidido estórias incessantemente através dos tempos. Usualmente, para fazer um bom filme é suficiente apenas um único uso de situações arquetípicas. Um amor infeliz, por exemplo, ou um desenlace amoroso. Mas Casablanca não se satisfez com isto: ele usou-as todas. A cidade é a passagem para a Terra Prometida (ou, se se preferir, a passagem Noroeste). Tanto é assim que a passagem se constitui a pedra de toque, o único caminho (“o caminho e o caminho e o caminho” fala em off uma voz no início.) A passagem para a sala de espera da Terra Prometida requer uma Chave Mágica, o passaporte. É em torno da conquista desta chave que as paixões se desencadeiam. O dinheiro (que surge na forma de variados ícones, usualmente como um Jogo Fatal, a roleta) poderia dar a impressão de ser o meio para obter a Chave. Mas finalmente nós descobrimos que esta chave pode ser obtida somente através de uma Dádiva – uma doação do passaporte; além disso, a doação acarreta em Rick o Desejo de seu próprio sacrifício. Por sua vez, é também a história de uma ciranda dos Desejos, nos quais só dois deles serão contemplados: aquele de Victor Laszlo, o mais genuíno dos heróis e o outro do casal búlgaro. Em conseqüência, todos aqueles cujas paixões são impuras fracassam. Por este caminho, nós temos um outro arquétipo: o triunfo da Pureza. O impuro não alcança a Terra Prometida, nós os perdemos de vista antes disso. Mas eles alcançam a pureza pelo sacrifício – e este o leva à Redenção. Rick resgata não somente a si próprio mas também o capitão da polícia francesa. Nós percebemos, implicitamente, a existência de duas Terras Prometidas: uma a América (para muitos através de uma meta artificial), e a outra é a Resistência – a Guerra Santa. Aquela para onde Victor parte e aquela para onde Rick e o Capitão francês vão aliar-se a de Gaulle. E se o recorrente símbolo do aeroplano surge freqüentemente no vôo para a América, a Cruz de Lorena aparece apenas uma vez antecipando o outro gesto simbólico do Capitão, no fim quando ele arremessa à distancia a garrafa de água de Vichy enquanto o avião está partindo. Uma outra transmissão do mito percorre todo o filme: o sacrifício de Ilse em Paris, quando ela abandona o homem amado, após o retorno do herói ferido. A búlgara sacrifica a lua de mel quando ela própria cede sua felicidade em favor de seu marido. Da mesma forma, Victor se sacrifica quando se prepara para deixar Ilse partir com Rick, contanto que ela fosse salva.
Nesta orgia de arquétipos (acompanhada pelo arquétipo do Servo Fiel, tema da relação de Bogey com o pianista negro Dooley Wilson) está inserido o tema do Amor Infeliz: infeliz para Rick que ama Ilse e não pode tê-la; infeliz para Ilse que ama Rick e não pode partir com ele; enquanto Victor é infeliz porque compreende, na realidade, não possuir o amor de Ilse. A reciprocidade de amores infelizes produz voltas e reviravoltas: no início, Rick é infeliz porque não compreende o motivo de Ilse tê-lo deixado; enquanto Victor é infeliz porque não compreende o motivo da atração de Ilse por Rick; finalmente Ilse é infeliz porque não entende o motivo de Rick tê-la deixado partir com seu marido.
Estes três amores infelizes (ou Impossíveis) tomam a forma de um triângulo. Além do mais, no arquétipo do triângulo sentimental há um Marido Traído e um Amante Vitorioso. Aqui os dois homens sofrem a perda, mas nesta derrota (e pairando acima dela) um elemento adicional contempla a trama; no entanto, tal a maneira sutil como se apresenta, só dificilmente nós podemos perceber. Neste elemento, muito subliminarmente, uma sugestão de amor viril ou Socrático paira no ar. Rick admira Victor; Victor é ambiguamente atraído por Rick e isto parece algo quase visível, como se cada qual dos dois jogassem o duelo sacrificial para satisfazer o outro. Em todo caso, como nas Confissões de Rousseau, a mulher se coloca como um elo intermediário entre os dois. Ela própria é destituída de valor positivo; apenas os dois homens o possuem.
Em oposição a este pano de fundo carregado de ambigüidades, ambos os personagens são figuras estratificadas, posicionadas para o bem ou para o mal. Victor joga um duplo papel como um instrumento de ambigüidade na história deste amor, e como um agente iluminado na intriga política – ele é a Beleza em oposição à Besta Nazista. O tema da Civilização versus Barbárie envolveu-se com outros, e em direção a um Retorno Odisseico somou-se à ousadia de uma Ilíada explicitamente bélica.
Circundando esta dança de mitos eternos, nós percebemos os mitos históricos, ou mais precisamente os mitos do cinema devidamente requentados. Bogart, ele próprio, personifica um pouco três deles: o Aventureiro Ambíguo, composto de cinismo e generosidade, o Amante Ascético, e ao mesmo tempo é um Alcoólatra Redimido (ele torna-se alcoólatra para ser, subitamente redimido, ao passo que já era um ascético nato). Ingrid Bergman é uma Enigmática Mulher, ou Femme Fatale. Em razão disto, surgem as canções míticas:They´re Playing Our Song; The Last Day in Paris; América, África, Lisbon as a Free Pot; e a Border Station, ou Last Outpost on the Edge of the Desert.
Há ainda a Legião Estrangeira (cada personagem possui um diferente nacionalidade e uma diferente história para contar) e finalmente há o Grande Hotel (pessoas indo e vindo). Rick´s Place abriga um círculo mágico onde tudo pode acontecer (e acontece): amor, morte, perseguição, espionagem, lances de sorte, seduções, música, patriotismo (A origem teatral do enredo, e sua pobreza de meios, leva a uma admirável condensação de eventos em um único cenário). Este lugar pode ser Hong Kong, Macao, l´Enfer du Jeu, uma antecipação de Lisboa igual a Showboat.
No entanto, precisamente porque existem tantos arquétipos, precisamente porque Casa Blanca cita inumeráveis filmes, e cada ator repete um lance representado em outra ocasião, a ressonância da intertextualidade seduz o telespectador. Casa Blanca traz com isto, semelhante a um rastro de perfume, outras situações as quais levam o telespectador a se entregar completamente e de boa vontade, acolhendo-as, sem se dar conta de outros filmes que só apareceriam mais tarde, tais como To Have and Have not, quando Bogart representa de fato o herói de Hemingway, enquanto aqui em Casa Blanca ele já carrega uma conotação hemingwaynesca pelo simples fato de Rick, da maneira como nos foi informado, lutou na Espanha (e igual a Malraux ajudou a Revolução Chinesa). Peter Lorre traz consigo uma reminiscência de Fritz Lang, Conrad Veidt envolve seu oficial germânico num pálido aroma do The Cabinet of Dr. Caligari – ele não é um implacável executor, mas um noturno e diabólico César.
Por tudo isto Casa Blanca não é um único filme. Ele é muitos filmes, uma antologia. Provavelmente, e de uma forma acidental, ele si fez a si próprio, contra a intenção de seus autores e atores, que tiveram, por conseguinte, uma pequena parcela sobre seu controle. Esta é a razão de ele ir na contramão das teorias estéticas e das teorias cinematográficas. Para tanto, ele se revela com um poder narrativo quase telúrico, ou seja, em seu estado espontâneo sem que a Arte intervenha ou discipline. Por isso nós podemos aceitá-lo quando os personagens mudam de humor, moral e psicologicamente, de um momento para o outro; quando conspiradores tossem para interromper uma conversa se um espião se aproxima; quando prostitutas choram ao som de La Marseillaise. Quando todos os arquétipos explodem despudoradamente, nós alcançamos profundezas homéricas. Dois clihês nos fazem rir. Uma centena deles nos comove. Por esta razão, nós percebemos vagamente que eles dialogam entre si, celebrando um colóquio. Assim como no auge do sofrimento pode-se encontrar um prazer sensual e assim como o auge da perversão toca de perto a energia mística, também o auge da banalidade permite-nos capturar um vislumbre do sublime. Algo agiu no lugar do diretor. Se não foi nada disso, então é um fenômeno digno de admiração.
O Xangô de Baker Street, ou A Feição Ilustrada na Terra Tropical.
Romance de entretenimento, como o chamaria José Paulo Paes, o best-seller de Jô Soares veio para ficar e merece algumas considerações. Sem poder ser classificado como uma literatura cult, o romance tem tudo para prender o leitor brasileiro, acostumado às importações massificadas dos best-sellers do primeiro mundo, diferenciando-se por destacar, ficcionalmente, um período da nossa sociedade do século XIX, bem conhecida da literatura erudita de Machado de Assis. Sob a feição de um romance policial, esconde-se uma estratégica crônica dos costumes da capital do país, uma burlesca, mas sutil, caricatura de uma sociedade colonial afrancesada, onde a feição ilustrada de um detetive de ficção - Sherlock Holmes - e seu famoso poder dedutivo se vêem obnubilados pela não menos poderosa força dos trópicos. Mas vamos por partes.
Consideremos primeiro a diferença entre literatura erudita e literatura de entretenimento, também rotulada por alguns críticos - numa única direção e de uma forma homogeneizadora - como cultura de massa, literatura kitsch, ou ainda como best-seller. São afirmações contundentes, que se por um lado apontam o estereótipo e a banalização contidos em alguns exemplos desta prosa, por outro opõem simplesmente a tal “literatura” a uma arte da escrita que problematiza a nossa pobre vida dentro de uma proposta artisticamente bem mais elaborada. Tematizando entre estes dois pólos excludentes, os críticos da cultura de massa apegam-se também a estereótipos ideológicos, muitos deles advindos da “alta cultura” e do bom gosto das classes dominantes, envolvidas elas também no processo da comercialização dos bens simbólicos.
No contexto brasileiro tal situação é bastante complicada. Na sua maioria, a reflexão sobre estes dois tipos de prosa romanesca provém de estudiosos europeus, cujo contexto de modernização tanto industrial quanto dos bens simbólicos já se achava razoavelmente solidificado desde o século XIX, e isto faz uma grande diferença para o nosso contexto. Em outras palavras, “o Modernismo ocorre no Brasil sem modernização”, em meio à quase inexistência da indústria do livro e de uma grande massa populacional analfabeta ou semi-alfabetizada. Segundo ainda Renato Ortiz (que segue a pista deixada por Roberto Schwarz nas “idéias fora do lugar”) “... o ideário liberal chega (ao Brasil) antes do desenvolvimento das forças sócio-econômicas que o originaram no contexto europeu, ele se encontra na posição esdrúxula de existir sem se realizar.” Veremos mais adiante como isto toca de perto a temática que Jô Soares desenvolve no Xangô de Baker Street.
Lembremos ainda da colocação que Antonio Candido faz sobre a literatura como um sistema triádico, formado por autor- obra- público. Sem entrar no mérito da famosa questão do “seqüestro do barroco” - tão insistentemente lembrada quando se trata da posição do crítico na Formação da literatura brasileira: momentos decisivos - temos de admitir que a existência de um público ledor fortalece a produção literária, que, sem ele, circularia apenas no meio restrito de amigos e alguns poucos leitores esclarecidos.
Assim, entre a ilustração européia e o verniz esclarecido da pequena parcela da classe dominante brasileira a diferença é gritante. E o que dizer da grande maioria que não tem acesso aos bens simbólicos das grandes obras artísticas, sejam elas na música, na pintura ou na literatura? Acontece então um fenômeno inverso: essa população de semi-letrados, ao tomar contato com a cultura urbana, são literalmente assimilados pela linguagem televisiva, ou pela cultura massificada.
Voltamos então ao problema da precariedade da indústria do livro no nosso país, pois segundo José Paulo Paes, “Se a televisão conseguiu em tempo relativamente breve o que a indústria do livro não conseguiu até hoje, foi talvez devido à circunstância de ter chegado cedo a um país onde o livro chegou tarde. Só a partir dos anos 30 é que se pode falar de uma indústria editorial realmente brasileira; até então, grande parte das nossas minguadas edições eram impressas fora, em Portugal e na França. [...] Se o livro continua sendo insubstituível como instrumento de cultura e saber, perde de longe para a televisão como meio de entretenimento. [...] Para ser fruído, o livro, mesmo de entretenimento, exige um mínimo de esforço intelectual, dispensável na imagem falada no vídeo.”
Cheguemos agora à discussão sobre a literatura de entretenimento e seu público brasileiro. Ainda seguindo a pista de José Paulo Paes, a uma produção nacional de literatura de entretenimento, com os encargos promocionais para o seu reconhecimento, a industria cultural brasileira preferiu “adquirir os direitos de tradução de best-sellers estrangeiros que passaram por seus países de origem pelo teste da popularidade e aqui chegam já aureolados de prestígio publicitário. Um caso, portanto, menos de substituição de importações que de puro e simples transplante, típico daquele fluxo unidirecional entre centro e periferia a que o subdesenvolvimento econômico constrange.”
Numa outra ponta, o escritor brasileiro - por não ter o suporte de uma desenvolvida indústria livresca e, correlatamente, de um público de leitores que não lhe dá a contrapartida do lucro - este criador de ficção se vê forçado a se “amparar” no Estado, que passa a exercer o papel de um novo “mecenas” nesta nossa “modernidade”. É o caso de grandes escritores brasileiros, entre eles Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rego, Murilo Mendes e do próprio Machado de Assis no século XIX.
Voltemos ao ponto de partida que foi a convivência de uma literatura erudita ao lado da literatura de entretenimento. Em favor da última, diz Umberto Eco: “Em muitas dessas sisudas condenações do gosto massificado, no apelo desconfiado a uma comunidade de fruidores ocupados unicamente em descobrir as belezas ocultas e secretas da mensagem reservada da grande arte, ou da arte inédita, nunca se dá lugar ao consumidor médio (a cada um de nós na pele do consumidor médio), que, no fim de um dia de trabalho, pede a um livro ou a uma película o estímulo de alguns efeitos fundamentais (o arrepio, a risada, o patético) para restabelecer o equilíbrio da própria vida física e intelectual.”
Ora, são justamente estas causas que José Paulo Paes questiona no já citado trabalho. “Num país como o Brasil, de público ledor ainda reduzido, já ele não consegue viver da pena ou da máquina de escrever. A dificuldade de profissionalizar-se ajuda a explicar a quase ausência, entre nós, daquele tipo de artesão despretensioso de cuja competência nasce a boa literatura de entretenimento. [...] Numa cultura de literatos como a nossa, todos sonham ser Gustave Flaubert ou James Joyce, ninguém se contentaria em ser Alexandre Dumas ou Agatha Christie. Trata-se obviamente de um erro de perspectiva: da massa de leitores destes últimos autores é que surge a elite dos leitores daqueles, e nenhuma cultura realmente integrada pode dispensar de ter, ao lado de uma vigorosa literatura de proposta, uma não menos vigorosa literatura de entretenimento.”
2. O xangô de Baker Street, do conhecido entrevistador de televisão Jô Soares, está a mais de sete semanas ocupando o primeiro lugar na lista de sucessos de ficção, superando, inclusive o livro Chatô, do jornalista Fernando de Morais, que trata da biografia de Assis Chateaubriand. Se considerarmos a enxurrada de publicações biográficas e autobiográficas - aqui e lá fora, coincidentemente produzidas por jornalistas, além dos livros de “apoios” morais, existenciais, místicos e sexuais, etc. - já poderemos avaliar que a ficção de Jô Soares caiu no gosto do público com mais de 150 mil livros vendidos; algo inédito no Brasil para escritores iniciantes. Devido ao seu inegável talento como humorista e ao seu programa televisivo - que por sinal atinge uma boa parcela de espectador cult - o romancista corre o risco de ser ofuscado pela fama que desfruta na midia.
Afinal de que trata o romance, ou melhor, como enquadrá-lo dentro do gênero romanesco? É uma das primeiras preocupações de quem faz resenhas ou comentários e mesmo para os críticos que analisam a literatura de ficção. Quase todos afirmam, de cara, tratar-se de um romance cômico-policial, como está escrito na apresentação escrita na orelha do livro. O que não deixa também ter sua parte de verdade. Se ficarmos por aí, teremos então uma leitura de entretenimento, um rótulo que também satisfaz, já que a maioria de seus leitores pertencem a uma mídia que procura um desafogo para suas tensões e um refresco para os problemas do dia-a-dia.
Algo porém chama a atenção: em um país onde a crise financeira não dá descanso e torna incerto o dia de amanhã, adquirir um livro pelo preço de 24.00 reais não deixa de ser um luxo. E também não deixa de ser interessante a solução encontrada por alguns leitores; quem conta é o próprio Jô Soares em recente entrevista para a revista Isto é (22.11.95): um grupo de três pessoas aproxima-se dele e pede três autógrafos para um único livro; explicaram então que tinham se cotizado para comprar o romance.
Mas voltemos ao romance e à sua forma. Resumidamente vamos falar de seu enredo. A ação romanesca se passa no Rio de Janeiro, século XIX, e mais precisamente durante o reinado de D. Pedro II. A corte está em êxtase pela chegada da atriz francesa Sarah Bernhardt para uma longa temporada no Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara, na praça da Constituição, no Rossio. Ambos os dados são referencialmente verídicos. Paralelamente ao acontecimento social, a intriga envolve indiretamente o Imperador no roubo de um famoso violino Stradivarius, que ele tinha presenteado a uma amiga, a baronesa de Avaré. Segundo os potins da cidade (leiam-se fofocas) a amizade dos dois incomodava sobremaneira à Imperatriz Tereza Cristina. Para solucionar o desaparecimento, o Imperador aceita a sugestão da atriz de quem Sherlock Holmes é amigo e o convida a vir ao Rio de Janeiro para desvendar o mistério do roubo do violino, o qual, naturalmente, se fará acompanhar de seu amigo Dr. Watson.
Eis que entra o dado ficcional. Um imperador brasileiro, ligado à história do país, convida um ser de ficção a participar da trama através de uma personagem real - a atriz Sarah Bernhardt - que, por sua vez, se diz amiga da personagem criada por Conan Doyle. Temos assim dois planos narrativos e intercambiáveis: na camada superficial, o leitor depara-se com personagens verídicos, pertencentes à vida da corte, nas pessoas de intelectuais como Olavo Bilac, Aluísio e Artur de Azevedo, Guimarães Passos, os compositores Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth, Paula Nei, Coelho Neto, José do Patrocínio, ao lado de seres de ficção como marqueses, barões e viscondes de nossa nobreza caramuru - como diria o conhecido “Boca de Inferno”. E esta parte do romance compõe uma deliciosa crônica de costumes da capital do Império, com muita malícia e um humor sutilmente crítico.
Numa segunda camada, a trama torna-se mais apimentada pelo assassínio em série de mulheres jovens. O famoso detetive inglês envolve-se com o núcleo das investigações criminais, a convite do delegado Pimenta, um personagem bonachão e medianamente inteligente. Ao todo são quatro mortes e todas elas executadas por um psicopata misterioso, inteligente, cujo móvel dos assassinatos tem, evidentemente, um fundo freudiano. Ao tomar conhecimento dos crimes (àquela altura apenas dois) o detetive inglês cria um neologismo atual:
“ Em toda minha carreira nunca vi nada semelhante, Tirar brutalmente a vida dessas jovens, sempre da mesma forma e sem o menor propósito. O homem é um demente que gosta de assassiná-las em série, é o que eu chamaria de serial killer. Isto mesmo, serial killer - decretou Sherlock Holmes cunhando a expressão”.
E assim, na ficção de Jô Soares, o século XIX brasileiro se antecipa às plurissignificações idiomáticas que as exigências da sociedade moderna adota, em virtude de sua complexidade. Antecipa-se (e apropria-se) igualmente à antropofagia oswaldiana: de provincianos e atrasados, passaríamos a adiantados na superioridade semântica, mesmo tendo sido criado pelo estrangeiro, mas cuja causa e efeito se encontram aqui. A ação prossegue, com o assassino deixando propositais pistas, tais como uma corda de violino no corpo de cada vítima, com sua correspondente nota musical, - além de arrancar-lhes o par de orelhas. No vai-vem das delícias tropicais Sherlock Holmes confunde-se em seus poderes dedutivos, a ponto de ignorar indícios que lhes caem às mãos.
Vejamos agora de que maneira, o autor subverte a lógica linear criada pela ficção detetivesca. Desde a criação do romance policial, cuja máxima criação ainda é atribuída a Edgar Allan Poe, com seu célebre ilustrado e dedutivo Monsieur Dupin, desvendando Os crimes da rua Morgue, sua tipologia segue mais ou menos regras estabelecidas: há ou houve um crime (ou um roubo) e alguém que vai tratar de elucidar o enigma. Trata-se enfim do policial clássico que, segundo Todorov, “não transgride as regras do gênero”. Nele, o narrador conta a posteriori as peripécias da trama e o êxito do amigo: é o caso do Dr. Watson que é o narrador “oficial” das proezas dedutivas de Sherlock Holmes.
Existe ainda o roman noir, da década de trinta, que se diferencia por fazer coincidir os crimes e as perversões durante a trama, colocando-se no presente da narração e obrigando o detetive a seguir os passos do(s) criminoso(s), através de uma intensa ação. Neste caso, muitas vezes o que está em jogo é menos o poder analítico-policialesco e mais a dosagem de valentia daquele que enfrenta o perigo e dá o xeque-mate no transgressor.
Em Xangô de Baker Street não há um narrador presentificado como nos livros de Conan Doyle, nos quais o Dr. Watson imortaliza as façanhas do amigo. A narração se faz por ela mesma, através da ação e do desempenho dos personagens. Cria-se, assim, a “ilusão da realidade” que é um dos princípios do romance realista tradicional, sem a presença ostensiva do narrador. A prosa é elegante, condizente com o vocabulário da nossa corte no século XIX, na qual o Imperador é um ilustrado adepto do liberalismo francês, fala corretamente duas ou três línguas e cria ao seu redor uma provinciana corte afrancesada. Os momentos em que sobressaem este provincianismo são tratados com uma fina ironia pelo autor. Numa passagem em que o delegado Mello Pimenta pergunta a Sarah Bernhardt se ela concorda ou não com a mudança do Império para a República, a atriz responde com arte e astúcia (o savoir faire dos franceses) : “- Je ne me mêle pas de ses affaires...”, o que foi traduzido por um dos elegantes rapazes da sociedade: “Ela viu o Mello com seis alferes.” (Xangô, p. 26)
Outros indícios de fina ironia crítica a respeito da subserviência aos modelos europeus são apontados no espírito macaqueador da sociedade brasileira naquilo que há de mais superficial e provinciano. Há um momento em que Coelho Neto pergunta ao detetive o que ele está achando do Brasil. Pergunta clássica de entrevistador de televisão a que o detetive também responde em resposta equivalente:
“- Um lugar fascinante, realmente fascinante. Estou encantado com os costumes da terra. O povo é extremamente cordial. Sinto-me à vontade, como se estivesse em casa. Há algo, todavia, que não entendo - completou Sherlock, perplexo.” Instado a responder, ele diz que não compreende o fato de os homens se vestirem à européia, num país tropical. (Xangô, p. 174) Em seguida, A baronesa de Avaré responde: “- O senhor Holmes há de nos perdoar, mas a civilização tem seu preço. Il faut souffrir pour être beau...” Civilizadamente, também, Sherlock compreende “a lógica” do imperativo civilizador, mas decide mandar fazer roupas de linho branco para seu conforto, apesar de ser alertado pelos circunstantes de que o uso do tal tecido era coisa do “zé-povinho”.
Outro fato interessante é o dado de o detetive falar a nossa língua, com sotaque aportuguesado, aprendida numa de suas andanças por colônias portuguesas de além-mar. Para a funcionalidade do romance este dado é essencial pois facilita suas investigações e possibilita a desenvoltura com que ele se adapta às “excentricidades” tropicais. Dr. Watson, ao contrário, necessitando de intérprete, e torcendo o nariz aos nossos costumes, cai em situações ridículas, como, por exemplo, as circunstâncias em que ele “inventa” o uso da caipirinha. E exatamente é ele que incorpora a pomba-gira, num terreiro de xangô, cujo pai de santo tinha sido solicitado por suas entidades para desvendar o mistério dos assassinatos e descobrir o assassino, que em língua Nagô é chamado de Oluparun - o destruidor.
As pistas são dadas pela entidade debochada, e, mais uma vez, Sherlock não consegue montar o enigma, obnubilado que estava pelos encantos da terra e, particularmente, pela paixão que sentia por uma artista mulata - a Ana Candelária. Em decorrência de seu romance com a brasileira, seus poderes dedutivos ainda se tornam mais frágeis ao trocar o costumeiro uso da cocaína pelos prazeres mais sensuais da cannabis sativa.
Como foi falado anteriormente, a narração se faz por si mesma com o distanciamento do narrador. No entanto, o autor introduz um corte nesta linearidade ao trazer o assassino em cena. Nos momentos anteriores a cada crime, a disposição gráfica do livro muda o registro para o itálico e o discurso transforma-se em monólogo interior do perigoso psicopata: o tom é íntimo, psicológico, diferente, portanto, do registro realista da narração como um todo. Ao completar seu quarto crime, cuja vítima é aquela visada desde o primeiro momento por sua mente deformada, ele simplesmente sai à francesa, embarcando no mesmo navio em que um Sherlock, frustrado, volta a Londres. Daí o inusitado do romance, que à primeira vista poderia ser policial, mas que conserva o enigma dentro da ação e da trama quase até o fim , insinuando, inclusive, que o assassino continua agindo em Londres, na pele de Jack, o estripador, também feito através de recursos gráficos como uma nota no The Star e no The Times.
Tratando-se de uma leitura comentada, tentei trazer algumas informações sobre a estrutura do romance, mas sem maiores pretensões de uma análise em profundidade. Também não sei se seria o caso. Detalhes ricos não foram explorados, como por exemplo as deliciosas descrições do Rio antigo, fiéis às pesquisas feitas por Jô Soares, que - outra surpresa - no fim do livro expõe uma ampla bibliografia, fato inédito em termos de ficção, até onde conheço.
Consideremos primeiro a diferença entre literatura erudita e literatura de entretenimento, também rotulada por alguns críticos - numa única direção e de uma forma homogeneizadora - como cultura de massa, literatura kitsch, ou ainda como best-seller. São afirmações contundentes, que se por um lado apontam o estereótipo e a banalização contidos em alguns exemplos desta prosa, por outro opõem simplesmente a tal “literatura” a uma arte da escrita que problematiza a nossa pobre vida dentro de uma proposta artisticamente bem mais elaborada. Tematizando entre estes dois pólos excludentes, os críticos da cultura de massa apegam-se também a estereótipos ideológicos, muitos deles advindos da “alta cultura” e do bom gosto das classes dominantes, envolvidas elas também no processo da comercialização dos bens simbólicos.
No contexto brasileiro tal situação é bastante complicada. Na sua maioria, a reflexão sobre estes dois tipos de prosa romanesca provém de estudiosos europeus, cujo contexto de modernização tanto industrial quanto dos bens simbólicos já se achava razoavelmente solidificado desde o século XIX, e isto faz uma grande diferença para o nosso contexto. Em outras palavras, “o Modernismo ocorre no Brasil sem modernização”, em meio à quase inexistência da indústria do livro e de uma grande massa populacional analfabeta ou semi-alfabetizada. Segundo ainda Renato Ortiz (que segue a pista deixada por Roberto Schwarz nas “idéias fora do lugar”) “... o ideário liberal chega (ao Brasil) antes do desenvolvimento das forças sócio-econômicas que o originaram no contexto europeu, ele se encontra na posição esdrúxula de existir sem se realizar.” Veremos mais adiante como isto toca de perto a temática que Jô Soares desenvolve no Xangô de Baker Street.
Lembremos ainda da colocação que Antonio Candido faz sobre a literatura como um sistema triádico, formado por autor- obra- público. Sem entrar no mérito da famosa questão do “seqüestro do barroco” - tão insistentemente lembrada quando se trata da posição do crítico na Formação da literatura brasileira: momentos decisivos - temos de admitir que a existência de um público ledor fortalece a produção literária, que, sem ele, circularia apenas no meio restrito de amigos e alguns poucos leitores esclarecidos.
Assim, entre a ilustração européia e o verniz esclarecido da pequena parcela da classe dominante brasileira a diferença é gritante. E o que dizer da grande maioria que não tem acesso aos bens simbólicos das grandes obras artísticas, sejam elas na música, na pintura ou na literatura? Acontece então um fenômeno inverso: essa população de semi-letrados, ao tomar contato com a cultura urbana, são literalmente assimilados pela linguagem televisiva, ou pela cultura massificada.
Voltamos então ao problema da precariedade da indústria do livro no nosso país, pois segundo José Paulo Paes, “Se a televisão conseguiu em tempo relativamente breve o que a indústria do livro não conseguiu até hoje, foi talvez devido à circunstância de ter chegado cedo a um país onde o livro chegou tarde. Só a partir dos anos 30 é que se pode falar de uma indústria editorial realmente brasileira; até então, grande parte das nossas minguadas edições eram impressas fora, em Portugal e na França. [...] Se o livro continua sendo insubstituível como instrumento de cultura e saber, perde de longe para a televisão como meio de entretenimento. [...] Para ser fruído, o livro, mesmo de entretenimento, exige um mínimo de esforço intelectual, dispensável na imagem falada no vídeo.”
Cheguemos agora à discussão sobre a literatura de entretenimento e seu público brasileiro. Ainda seguindo a pista de José Paulo Paes, a uma produção nacional de literatura de entretenimento, com os encargos promocionais para o seu reconhecimento, a industria cultural brasileira preferiu “adquirir os direitos de tradução de best-sellers estrangeiros que passaram por seus países de origem pelo teste da popularidade e aqui chegam já aureolados de prestígio publicitário. Um caso, portanto, menos de substituição de importações que de puro e simples transplante, típico daquele fluxo unidirecional entre centro e periferia a que o subdesenvolvimento econômico constrange.”
Numa outra ponta, o escritor brasileiro - por não ter o suporte de uma desenvolvida indústria livresca e, correlatamente, de um público de leitores que não lhe dá a contrapartida do lucro - este criador de ficção se vê forçado a se “amparar” no Estado, que passa a exercer o papel de um novo “mecenas” nesta nossa “modernidade”. É o caso de grandes escritores brasileiros, entre eles Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rego, Murilo Mendes e do próprio Machado de Assis no século XIX.
Voltemos ao ponto de partida que foi a convivência de uma literatura erudita ao lado da literatura de entretenimento. Em favor da última, diz Umberto Eco: “Em muitas dessas sisudas condenações do gosto massificado, no apelo desconfiado a uma comunidade de fruidores ocupados unicamente em descobrir as belezas ocultas e secretas da mensagem reservada da grande arte, ou da arte inédita, nunca se dá lugar ao consumidor médio (a cada um de nós na pele do consumidor médio), que, no fim de um dia de trabalho, pede a um livro ou a uma película o estímulo de alguns efeitos fundamentais (o arrepio, a risada, o patético) para restabelecer o equilíbrio da própria vida física e intelectual.”
Ora, são justamente estas causas que José Paulo Paes questiona no já citado trabalho. “Num país como o Brasil, de público ledor ainda reduzido, já ele não consegue viver da pena ou da máquina de escrever. A dificuldade de profissionalizar-se ajuda a explicar a quase ausência, entre nós, daquele tipo de artesão despretensioso de cuja competência nasce a boa literatura de entretenimento. [...] Numa cultura de literatos como a nossa, todos sonham ser Gustave Flaubert ou James Joyce, ninguém se contentaria em ser Alexandre Dumas ou Agatha Christie. Trata-se obviamente de um erro de perspectiva: da massa de leitores destes últimos autores é que surge a elite dos leitores daqueles, e nenhuma cultura realmente integrada pode dispensar de ter, ao lado de uma vigorosa literatura de proposta, uma não menos vigorosa literatura de entretenimento.”
2. O xangô de Baker Street, do conhecido entrevistador de televisão Jô Soares, está a mais de sete semanas ocupando o primeiro lugar na lista de sucessos de ficção, superando, inclusive o livro Chatô, do jornalista Fernando de Morais, que trata da biografia de Assis Chateaubriand. Se considerarmos a enxurrada de publicações biográficas e autobiográficas - aqui e lá fora, coincidentemente produzidas por jornalistas, além dos livros de “apoios” morais, existenciais, místicos e sexuais, etc. - já poderemos avaliar que a ficção de Jô Soares caiu no gosto do público com mais de 150 mil livros vendidos; algo inédito no Brasil para escritores iniciantes. Devido ao seu inegável talento como humorista e ao seu programa televisivo - que por sinal atinge uma boa parcela de espectador cult - o romancista corre o risco de ser ofuscado pela fama que desfruta na midia.
Afinal de que trata o romance, ou melhor, como enquadrá-lo dentro do gênero romanesco? É uma das primeiras preocupações de quem faz resenhas ou comentários e mesmo para os críticos que analisam a literatura de ficção. Quase todos afirmam, de cara, tratar-se de um romance cômico-policial, como está escrito na apresentação escrita na orelha do livro. O que não deixa também ter sua parte de verdade. Se ficarmos por aí, teremos então uma leitura de entretenimento, um rótulo que também satisfaz, já que a maioria de seus leitores pertencem a uma mídia que procura um desafogo para suas tensões e um refresco para os problemas do dia-a-dia.
Algo porém chama a atenção: em um país onde a crise financeira não dá descanso e torna incerto o dia de amanhã, adquirir um livro pelo preço de 24.00 reais não deixa de ser um luxo. E também não deixa de ser interessante a solução encontrada por alguns leitores; quem conta é o próprio Jô Soares em recente entrevista para a revista Isto é (22.11.95): um grupo de três pessoas aproxima-se dele e pede três autógrafos para um único livro; explicaram então que tinham se cotizado para comprar o romance.
Mas voltemos ao romance e à sua forma. Resumidamente vamos falar de seu enredo. A ação romanesca se passa no Rio de Janeiro, século XIX, e mais precisamente durante o reinado de D. Pedro II. A corte está em êxtase pela chegada da atriz francesa Sarah Bernhardt para uma longa temporada no Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara, na praça da Constituição, no Rossio. Ambos os dados são referencialmente verídicos. Paralelamente ao acontecimento social, a intriga envolve indiretamente o Imperador no roubo de um famoso violino Stradivarius, que ele tinha presenteado a uma amiga, a baronesa de Avaré. Segundo os potins da cidade (leiam-se fofocas) a amizade dos dois incomodava sobremaneira à Imperatriz Tereza Cristina. Para solucionar o desaparecimento, o Imperador aceita a sugestão da atriz de quem Sherlock Holmes é amigo e o convida a vir ao Rio de Janeiro para desvendar o mistério do roubo do violino, o qual, naturalmente, se fará acompanhar de seu amigo Dr. Watson.
Eis que entra o dado ficcional. Um imperador brasileiro, ligado à história do país, convida um ser de ficção a participar da trama através de uma personagem real - a atriz Sarah Bernhardt - que, por sua vez, se diz amiga da personagem criada por Conan Doyle. Temos assim dois planos narrativos e intercambiáveis: na camada superficial, o leitor depara-se com personagens verídicos, pertencentes à vida da corte, nas pessoas de intelectuais como Olavo Bilac, Aluísio e Artur de Azevedo, Guimarães Passos, os compositores Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth, Paula Nei, Coelho Neto, José do Patrocínio, ao lado de seres de ficção como marqueses, barões e viscondes de nossa nobreza caramuru - como diria o conhecido “Boca de Inferno”. E esta parte do romance compõe uma deliciosa crônica de costumes da capital do Império, com muita malícia e um humor sutilmente crítico.
Numa segunda camada, a trama torna-se mais apimentada pelo assassínio em série de mulheres jovens. O famoso detetive inglês envolve-se com o núcleo das investigações criminais, a convite do delegado Pimenta, um personagem bonachão e medianamente inteligente. Ao todo são quatro mortes e todas elas executadas por um psicopata misterioso, inteligente, cujo móvel dos assassinatos tem, evidentemente, um fundo freudiano. Ao tomar conhecimento dos crimes (àquela altura apenas dois) o detetive inglês cria um neologismo atual:
“ Em toda minha carreira nunca vi nada semelhante, Tirar brutalmente a vida dessas jovens, sempre da mesma forma e sem o menor propósito. O homem é um demente que gosta de assassiná-las em série, é o que eu chamaria de serial killer. Isto mesmo, serial killer - decretou Sherlock Holmes cunhando a expressão”.
E assim, na ficção de Jô Soares, o século XIX brasileiro se antecipa às plurissignificações idiomáticas que as exigências da sociedade moderna adota, em virtude de sua complexidade. Antecipa-se (e apropria-se) igualmente à antropofagia oswaldiana: de provincianos e atrasados, passaríamos a adiantados na superioridade semântica, mesmo tendo sido criado pelo estrangeiro, mas cuja causa e efeito se encontram aqui. A ação prossegue, com o assassino deixando propositais pistas, tais como uma corda de violino no corpo de cada vítima, com sua correspondente nota musical, - além de arrancar-lhes o par de orelhas. No vai-vem das delícias tropicais Sherlock Holmes confunde-se em seus poderes dedutivos, a ponto de ignorar indícios que lhes caem às mãos.
Vejamos agora de que maneira, o autor subverte a lógica linear criada pela ficção detetivesca. Desde a criação do romance policial, cuja máxima criação ainda é atribuída a Edgar Allan Poe, com seu célebre ilustrado e dedutivo Monsieur Dupin, desvendando Os crimes da rua Morgue, sua tipologia segue mais ou menos regras estabelecidas: há ou houve um crime (ou um roubo) e alguém que vai tratar de elucidar o enigma. Trata-se enfim do policial clássico que, segundo Todorov, “não transgride as regras do gênero”. Nele, o narrador conta a posteriori as peripécias da trama e o êxito do amigo: é o caso do Dr. Watson que é o narrador “oficial” das proezas dedutivas de Sherlock Holmes.
Existe ainda o roman noir, da década de trinta, que se diferencia por fazer coincidir os crimes e as perversões durante a trama, colocando-se no presente da narração e obrigando o detetive a seguir os passos do(s) criminoso(s), através de uma intensa ação. Neste caso, muitas vezes o que está em jogo é menos o poder analítico-policialesco e mais a dosagem de valentia daquele que enfrenta o perigo e dá o xeque-mate no transgressor.
Em Xangô de Baker Street não há um narrador presentificado como nos livros de Conan Doyle, nos quais o Dr. Watson imortaliza as façanhas do amigo. A narração se faz por ela mesma, através da ação e do desempenho dos personagens. Cria-se, assim, a “ilusão da realidade” que é um dos princípios do romance realista tradicional, sem a presença ostensiva do narrador. A prosa é elegante, condizente com o vocabulário da nossa corte no século XIX, na qual o Imperador é um ilustrado adepto do liberalismo francês, fala corretamente duas ou três línguas e cria ao seu redor uma provinciana corte afrancesada. Os momentos em que sobressaem este provincianismo são tratados com uma fina ironia pelo autor. Numa passagem em que o delegado Mello Pimenta pergunta a Sarah Bernhardt se ela concorda ou não com a mudança do Império para a República, a atriz responde com arte e astúcia (o savoir faire dos franceses) : “- Je ne me mêle pas de ses affaires...”, o que foi traduzido por um dos elegantes rapazes da sociedade: “Ela viu o Mello com seis alferes.” (Xangô, p. 26)
Outros indícios de fina ironia crítica a respeito da subserviência aos modelos europeus são apontados no espírito macaqueador da sociedade brasileira naquilo que há de mais superficial e provinciano. Há um momento em que Coelho Neto pergunta ao detetive o que ele está achando do Brasil. Pergunta clássica de entrevistador de televisão a que o detetive também responde em resposta equivalente:
“- Um lugar fascinante, realmente fascinante. Estou encantado com os costumes da terra. O povo é extremamente cordial. Sinto-me à vontade, como se estivesse em casa. Há algo, todavia, que não entendo - completou Sherlock, perplexo.” Instado a responder, ele diz que não compreende o fato de os homens se vestirem à européia, num país tropical. (Xangô, p. 174) Em seguida, A baronesa de Avaré responde: “- O senhor Holmes há de nos perdoar, mas a civilização tem seu preço. Il faut souffrir pour être beau...” Civilizadamente, também, Sherlock compreende “a lógica” do imperativo civilizador, mas decide mandar fazer roupas de linho branco para seu conforto, apesar de ser alertado pelos circunstantes de que o uso do tal tecido era coisa do “zé-povinho”.
Outro fato interessante é o dado de o detetive falar a nossa língua, com sotaque aportuguesado, aprendida numa de suas andanças por colônias portuguesas de além-mar. Para a funcionalidade do romance este dado é essencial pois facilita suas investigações e possibilita a desenvoltura com que ele se adapta às “excentricidades” tropicais. Dr. Watson, ao contrário, necessitando de intérprete, e torcendo o nariz aos nossos costumes, cai em situações ridículas, como, por exemplo, as circunstâncias em que ele “inventa” o uso da caipirinha. E exatamente é ele que incorpora a pomba-gira, num terreiro de xangô, cujo pai de santo tinha sido solicitado por suas entidades para desvendar o mistério dos assassinatos e descobrir o assassino, que em língua Nagô é chamado de Oluparun - o destruidor.
As pistas são dadas pela entidade debochada, e, mais uma vez, Sherlock não consegue montar o enigma, obnubilado que estava pelos encantos da terra e, particularmente, pela paixão que sentia por uma artista mulata - a Ana Candelária. Em decorrência de seu romance com a brasileira, seus poderes dedutivos ainda se tornam mais frágeis ao trocar o costumeiro uso da cocaína pelos prazeres mais sensuais da cannabis sativa.
Como foi falado anteriormente, a narração se faz por si mesma com o distanciamento do narrador. No entanto, o autor introduz um corte nesta linearidade ao trazer o assassino em cena. Nos momentos anteriores a cada crime, a disposição gráfica do livro muda o registro para o itálico e o discurso transforma-se em monólogo interior do perigoso psicopata: o tom é íntimo, psicológico, diferente, portanto, do registro realista da narração como um todo. Ao completar seu quarto crime, cuja vítima é aquela visada desde o primeiro momento por sua mente deformada, ele simplesmente sai à francesa, embarcando no mesmo navio em que um Sherlock, frustrado, volta a Londres. Daí o inusitado do romance, que à primeira vista poderia ser policial, mas que conserva o enigma dentro da ação e da trama quase até o fim , insinuando, inclusive, que o assassino continua agindo em Londres, na pele de Jack, o estripador, também feito através de recursos gráficos como uma nota no The Star e no The Times.
Tratando-se de uma leitura comentada, tentei trazer algumas informações sobre a estrutura do romance, mas sem maiores pretensões de uma análise em profundidade. Também não sei se seria o caso. Detalhes ricos não foram explorados, como por exemplo as deliciosas descrições do Rio antigo, fiéis às pesquisas feitas por Jô Soares, que - outra surpresa - no fim do livro expõe uma ampla bibliografia, fato inédito em termos de ficção, até onde conheço.
Assinar:
Postagens (Atom)